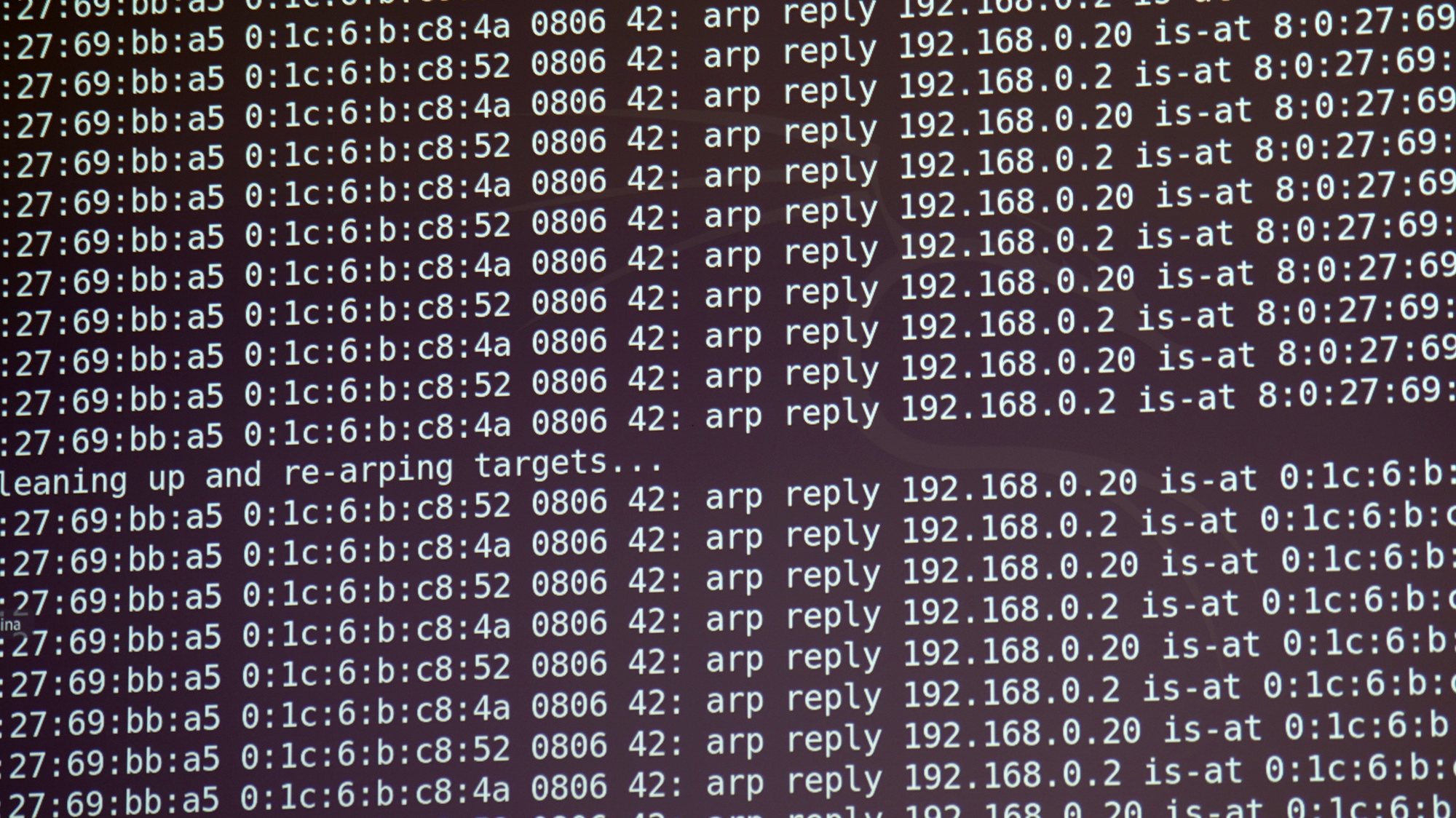Segue uma troca conceptual: a floresta deixa de ser a natureza que não conhecemos. A floresta é agora a ciência que cultivámos. O bosque que está em causa já não é o da incursão na natureza selvagem, mas é o mato imenso da tecnologia que desenvolvemos. Logo, a sobrevivência mais urgente não é aquela que precisam pessoas abandonadas em lugares inóspitos do planeta, mas a necessária à maioria que está automaticamente servida dos grandes consolos tecnológicos. Os papéis inverteram-se e a nossa tarefa é salvarmo-nos da civilização.
É facto que éramos primitivos quando tínhamos de sobreviver à floresta construindo casas, cidades e culturas; mas hoje estamos de volta a ser primitivos para sobreviver às casas, cidades e culturas que construímos — são elas as novas selvas e desertos que nos ameaçam. Se antes nos salvámos pela cultura, agora precisamos de nos salvar dela. Precisávamos antes de saber para sobreviver, agora precisamos de uma vida que se livra de todo o saber que acumulámos. Vai safar-se quem se livrar do saber selvático que nos cerca.
Do mesmo modo como somos hoje excessivamente iluminados e precisamos de reaprender o valor das trevas (falei nisto no texto “Uma espécie de manifesto por uma estética cristã do obscuro”), estamos hoje excessivamente cultivados e precisamos de reaprender o valor do primitivo. São condições que só sublinham o paradoxo dos nossos tempos. Ao escrever isto, não sugiro nenhuma fé na natureza. Não encontro na natureza uma mãe nem no nosso suposto livre arbítrio um desígnio familiar. Não creio num regresso a um estado puro que eventualmente produza dentro de nós uma salvação (pelo contrário: o que mais precisamos é de voltar a sentirmo-nos perdidos).
O escritor inglês Paul Kingsnorth tem explorado temas semelhante e profetizado o apocalipse vindouro nesse sinistro advento da máquina (the Machine, como ele diz). Tendo a ser pouco crente na harmonia que ele atinge quando se refugia nos espaços verdes da sua Bretanha, mas concordo fundamentalmente com o seu alarme diante de uma acumulação tecnológica que, por si, já ganhou uma personalidade. Sim, também acho que a nossa dependência das máquinas digitais já providenciou uma relação ontologicamente plural: as máquinas já não são apenas máquinas e já são como pessoas. Atenção que não disse que as máquinas são pessoas, mas já nos relacionamos com elas como se pessoas fossem.
Kingsnorth colecciona oito princípios da sua causa de “Uncivilization”. O segundo vai assim: “Rejeitamos a fé que consiste em crer que as crises dos nossos tempos podem ser reduzidas a uma série de ‘problemas’ que precisam de ‘soluções’ tecnológicas ou políticas”. E a ironia é precisamente esta: de tão obcecados que vivemos para resolver problemas, prendemo-nos nas soluções já adquiridas ou por adquirir. A coisa mais civilizada é, portanto, descivilizar, defende o bom Paul.
Este não é um texto anti-tecnologia. Mas é um texto favorável a encontrar algum cheiro de enxofre na omnipresença tecnológica do digital. Será o meu contributo ridículo mas sincero para nos mobilizarmos contra a tralha que acumulámos para supostamente viver melhor. Por estarmos tão servidos é que temos de nos começar a sentir à rasca. A tecnologia digital é um mordomo que sempre nos acode mas que, mais dia menos dia, se vai revelar. Não estamos num resort, estamos num rapto. E todos derretidinhos em síndrome de Estocolmo.