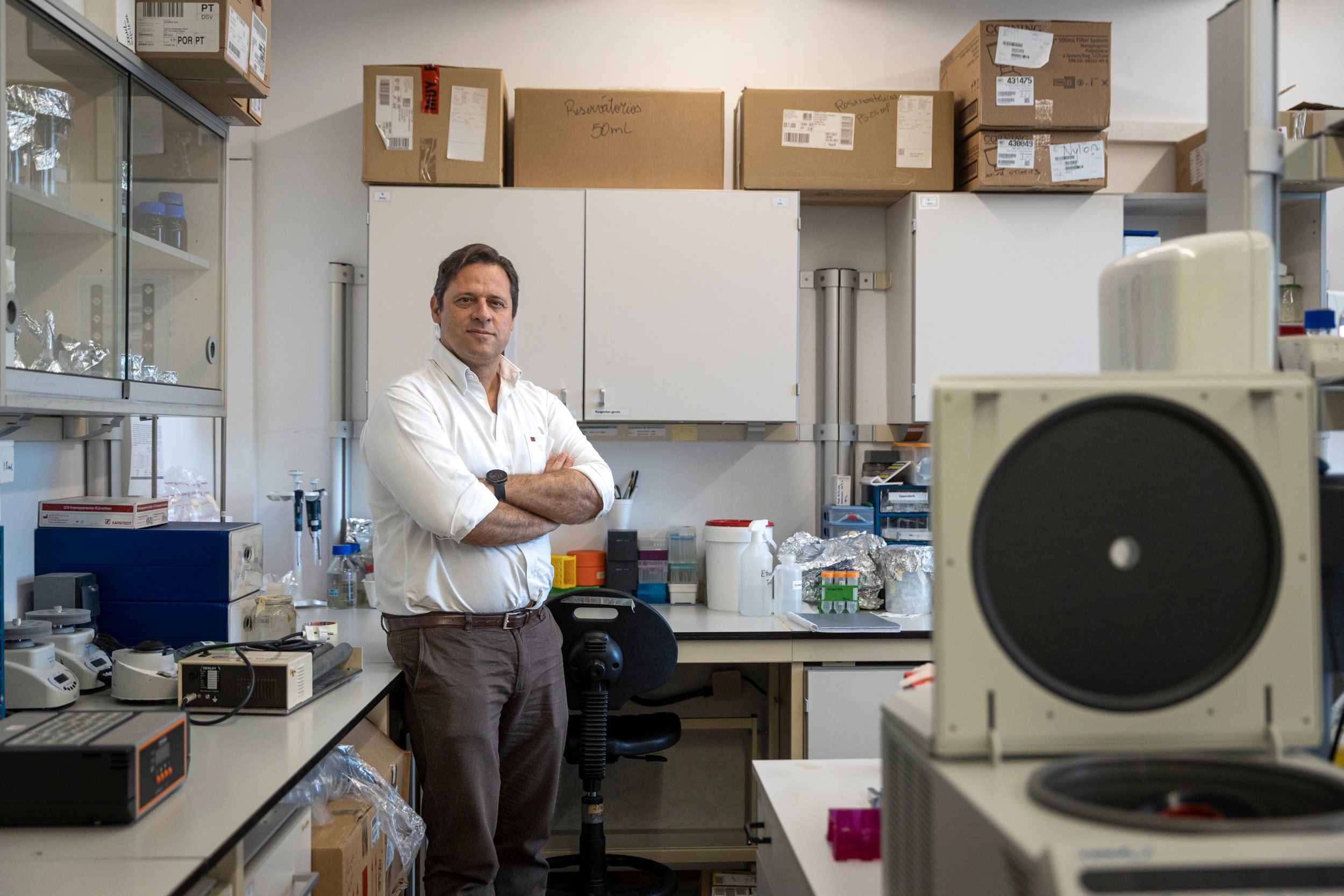Por estes belos dias que temos tido, a actividade principal, se se tiver sorte, consiste em conviver com pessoas já mortas ou que nunca existiram. É o que a pilha de livros de Agosto, uns de história, outros romances, diz. “Pessoas” não é, talvez, a palavra mais certa: “personagens” convém melhor. Mas, personagens ou pessoas, a pilha de livros mostra que, para viver realidades alternativas, não é preciso participar nos pueris rituais, onde se explora a curiosidade sexual infantil, do “Liberdade”, o acampamento de jovens do Bloco de Esquerda. Basta ler livros. Ao sol ou à sombra, sem pensar excessivamente nas sábias directivas do Governo, que parece querer punir, por uma inventiva interpretação literal da clássica imagem, o desejo de um lugar ao sol, sem dúvida para nos evitar os problemas e as indignações virtuosas que nos surgiriam caso nos viessem a tomar por encarnações locais de Donald Trump. A acreditar no que se ouve e lê, um horror social só comparável a uma actuação do proverbial Quim Barreiros no “Liberdade”.
Mas o melhor é mesmo, por uns tempos, esquecer os vivos. Acreditar na existência deles durante onze meses já cansa o bastante. É tempo de acreditar na dos mortos ou na dos que, personagens fictivos, nunca existiram na acepção corrente do verbo “existir”. O exercício liberta a imaginação dos seus costumes mais habituais. Não é, é claro, que personagens fictivos e históricos se confundam. São personagens de diferente natureza, como é bom de ver. E isso revela-se, quanto mais não seja, pelo tipo de crença que nos inspiram. Insistir nessa diferença é um pouco insistir no óbvio, mas de vez em quando é preciso fazê-lo.
Tomemos Medeia como exemplo de um personagem fictivo. Desde a referência à personagem numa breve passagem de Homero, que Medeia conheceu uma extraordinária fortuna na literatura e na música ocidentais. Suscitou múltiplas versões. Deixo de lado as razões para isso, que não se aplicam obviamente apenas a Medeia e que são matéria de especulação. O facto é que é assim. Ora, cada Medeia, a mais célebre sendo, bem entendido, a de Eurípides, vale absolutamente por si mesma. Não faz sentido, tirando no que respeita a um certo número de dados básicos da fábula, ou do mito, ler Séneca ou Corneille e dizer: não é assim. A questão não é aqui de verdade, mas de realidade, da estranha realidade das obras da imaginação, que pode ser maior ou menor. Cada Medeia vale absolutamente por si mesma – ou não vale. “Vale”, quer dizer: existe, cria em nós o sentimento de uma realidade. Existe à maneira singular dos personagens de ficção, figuras que nos acompanham na vida e que são dotadas de uma significação que é por nós e pelos outros, quaisquer que sejam as diferenças de interpretação, em princípio reconhecível.
Mas o que interessa verdadeiramente aqui é que não faz sentido, a não ser numa acepção muito particular, procurar a “verdadeira” Medeia no conjunto das várias Medeias que o teatro e a ópera, e algumas outras artes, nos deixaram. E seria francamente muito idiota cruzar os aspectos das várias Medeias, aceitando alguns e descartando outros, na ambição de determinar qual a “verdadeira”. Seria, é claro, falhar todo o propósito da arte. A crença não advém aqui do sentimento de uma realidade exterior que aspiramos a determinar, na medida do possível, objectivamente, mas sim de uma relação directa com a obra de arte, de qualquer tipo que esta seja. De uma certa maneira, e por mais que a crença em ficções, deste ou doutro tipo, estruture cada sociedade e marque a sua singularidade, Medeia, ou qualquer outro personagem fictivo, é apenas real em nós.
Com os personagens históricos é certamente muito diferente. Conhecemos os personagens históricos, tal como os personagens fictivos, através dos livros. Conhecemos D. Pedro, D. Miguel ou o sinistro Teles Jordão, através, por exemplo, do Portugal Contemporâneo de Oliveira Martins. Mas, na nossa apreensão dos personagens históricos, introduz-se evidentemente um intervalo, para não dizer um abismo, entre a maneira como eles são apresentados nos livros e a sua existência real. A fascinação da história resulta, de resto, muito daí, dessa tensão patente na arte venatória, na caça ao personagem, do historiador. Será que o D. Pedro real correspondia ao personagem descrito por Oliveira Martins? Os historiadores comparam, por isso, as descrições, os relatos, as narrativas: procuram, através de aproximações, atingir o carácter do personagem, descobrir as intenções, determinar o sentido das acções. Enfim, pelo menos é lícito ao leigo supor que é assim que se passa.
Em consequência disto, por mais afinidades que existam entre os géneros (a boa história tem, também ela, a obrigação de nos fazer experimentar a realidade dos personagens, e isso implica uma certa continuidade com a literatura, não basta tomar a realidade como aceite: é preciso fazê-la ver), obtém-se uma modalidade de crença completamente diferente daquela que temos em relação aos personagens fictivos. O leitor de um livro de história, exactamente por ter consciência da existência independente dos personagens é obrigado, contrariamente ao de ficção, a guardar sempre algum cepticismo em relação àquilo que lê. Não faz sentido ser céptico relativamente a Corneille – faz todo o sentido, e é mesmo necessário, ser céptico relativamente a Oliveira Martins. (O cepticismo em relação à arte, a fazer sentido, confunde-se com o desprazer; em história, pelo contrário, com a curiosidade.)
É claro que os personagens históricos são susceptíveis de um tratamento romanesco ou poético. Mas aí as regras do jogo mudam completamente. Pense-se, por exemplo, em Inês de Castro. A história funciona aqui como a fábula originária no caso de Medeia. Há certos dados básicos constringentes, mas tudo o resto é livre. A realidade que se sente é resultado estrito do génio do autor. Por acaso, no que repeita a Inês de Castro não é difícil reconhecer que a realidade maior vem de Camões, embora António Ferreira seja muito bom. Já me aconteceu, não me perguntem porquê, ler vários poetas que, depois, retomaram o tema: Bocage, Soares de Passos, Gonçalves Crespo, etc. O sentimento de realidade é, no mínimo, vago. E não vale a pena falar de Eugénio de Castro: “E, atrás do caixão, a Dama / Que chorava, estrada fora, / Desconfia-se que fosse / A Virgem Nossa Senhora…”. Que raio de ideia!
É, de resto, curioso que nenhum dos quatro poetas dos finais do século XIX e primeira metade do século XX que criaram a melhor poesia portuguesa – Cesário Verde, António Nobre, Camilo Pessanha e Fernando Pessoa – tenha escrito, que eu saiba, um só verso sobre Inês de Castro, mesmo quando manifestamente isso lhes poderia convir, como é talvez o caso de António Nobre e, certamente, o de Pessoa (na Mensagem). Provavelmente, não valia a pena competir com a realidade poética que Camões tinha criado para a personagem e que é quase perfeitamente independente da realidade histórica.
Moral da história. Viver algum tempo com personagens históricos e fictivos (diferentes entre si, como se viu) permite-nos alguma distância por relação às crenças respeitantes aos vivos que o dia-a-dia nos obriga a manter. Entre outras coisas, evita a tendência à inconsciente ficcionalização destes últimos. E aqui dá vontade de voltar a Donald Trump. Confesso que já não tenha paciência para o momento diário de ódio a Donald Trump que os virtuosos apresentadores dos jornais televisivos nos oferecem. É claro que a coisa se integra no contexto mais geral da esquisita passionalidade com que as pessoas vivem costumeiramente as eleições americanas, mas isso é assunto para um artigo inteiro. O que é interessante nos juízos relativos a Trump é que eles quase deixaram já de ser políticos (e deixo de lado a questão de saber se os apresentadores dos jornais televisivos devem emitir juízos políticos): aproximam-se mais de juízos estéticos, no sentido em que são vividos com um sentimento de evidência pessoal fundado no prazer e no desprazer, e ao mesmo tempo exibindo uma universalidade incondicional que nada, politicamente, autoriza a supor. Ora isso, por mais que Trump ajude, não é menos o produto quase exclusivo de uma ficcionalização do personagem. E, quando ficcionalizamos um político, uma coisa é certa e segura: enganamo-nos. Ah!, se Agosto fizesse bem às cabeças…