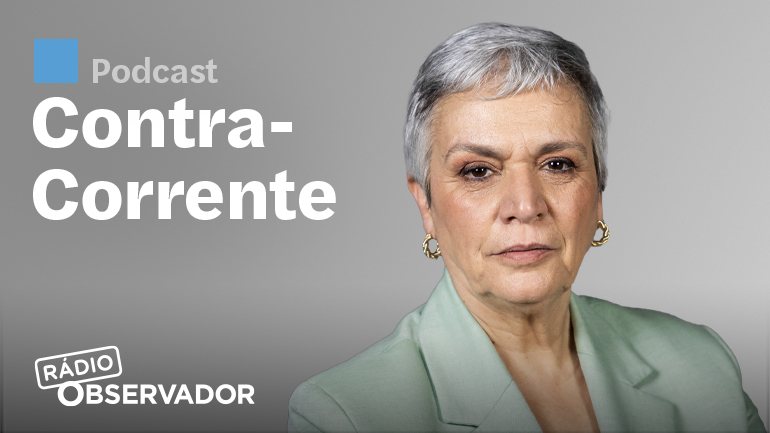A tradição é a fé viva dos mortos e o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. A genealogia era uma ciência que os judeus cultivavam, porque o seu sacerdócio estabelecia-se em função da linhagem: só os descendentes de Aarão – como Zacarias, pai de João Baptista e marido de Santa Isabel – o podiam exercer. Com Cristo, da mesma forma como o povo eleito deixa de estar limitado a Israel, também o sacerdócio fica acessível a todos os varões católicos, desde que a Igreja neles reconheça esse chamamento divino.
A promessa da bênção divina foi feita a Abraão e à sua geração, como também foi profetizado que o Messias seria descendente do rei David. Muitos séculos depois, essas remotas origens judaicas deixaram de ser importantes para os cristãos e, até, passaram a ser inconvenientes. Com efeito, muito embora Jesus e os primeiros discípulos fossem judeus e os primeiros cristãos convivessem pacificamente com os outros membros desse povo, cujas sinagogas São Paulo frequentava, os reis católicos decidiram a sua expulsão, bem como a dos muçulmanos, dos reinos hispânicos, a não ser que se convertessem à fé cristã. D. Manuel I também adoptou, por pressão dos monarcas castelhanos, essa política e, desde então, passou a ser quase proibido qualquer remoto parentesco com hebreus ou mouros.
Estes pruridos genealógicos levaram ao absurdo de nem sequer o próprio Cristo poder pertencer à Ordem religiosa e militar a que foi dado o seu nome! Contudo, nem sempre foi tão radical a separação entre os cristãos e os fiéis de outras religiões. Por exemplo, a rainha Santa Isabel de Portugal, mulher de D. Dinis, e que nasceu infanta de Aragão, descendia nada mais nem nada menos do que do próprio Maomé, por sua filha, Fátima az-Zahra, que foi casada com o Califa Ali ibn Ali Talib Hashim, origem da dinastia hachemita, que ainda hoje reina na Jordânia. Com efeito, uma oitava neta de Maomé, de seu nome Auria ibn Lope ibn Musa, que nasceu no ano 825, casou com Fortun Garcés, rei de Pamplona. Deste casal procedem os reis de Aragão, de Castela, de Leão e de Portugal e, portanto, todas as casas reais peninsulares, e não só, descendem do profeta. Há uns séculos, este parentesco era muito indesejável mas, num futuro próximo, poderá ser de grande utilidade, se o velho continente vier a ser, de novo, conquistado e ocupado pelo Islão…
Se é curiosa a ascendência árabe da rainha Santa Isabel, não é tão surpreendente que fosse parente próxima de uma princesa homónima, de quem tinha em comum não só o nome, como também a santidade. Com efeito, a nossa rainha santa era filha do rei Pedro III de Aragão e neta paterna de Jaime I, rei de Aragão, e de sua mulher a rainha Iolanda, irmã de Santa Isabel da Hungria. Foi esta Santa Isabel que fez o milagre das rosas que, tardiamente, também se atribuiu à nossa Rainha Santa. Como esta imputação do milagre só aconteceu vários séculos depois da morte de Santa Isabel de Portugal, e não consta nas crónicas mais antigas, carece de fundamento histórico.
É verdade que, ao contrário do que a lenda popular fez crer, a santa mulher de D. Dinis não protagonizou o milagre das rosas, o que em nada diminui a sua heroica virtude, não apenas como cristã, mas também como rainha. Como acertadamente escreveu o nosso Padre António Vieira, foi mais santa, porque rainha, e mais rainha, porque santa. Numa das suas inspiradas trovas, seu infiel marido chegou a dizer que, como era tanto o seu saber e virtude, ela é que era boa para ser rei!
Se tivermos em conta que, na actualidade, as mulheres dos monarcas árabes nem sequer são rainhas, mas apenas princesas, porque à mulher islâmica não é reconhecida a condição social do cônjuge, é muito surpreendente o estatuto da mulher cristã ibérica na Idade Média. Não só podiam ser rainhas por direito próprio e, como tal, exercer o poder real, como podiam também ser regentes, por impedimento do marido rei, ou na menoridade do filho monarca. É curioso o caso da ‘católica’ Isabel que, por
ser, por direito próprio, rainha de Castela, não era inferior, nem em dignidade, nem em poder, a seu marido, o também ‘católico’ Fernando, rei de Aragão. Daí o lema do régio casal: “Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando”.
Se é significativo o parentesco entre as duas santas princesas homónimas, é também digno de menção que uma sobrinha-neta de Santa Isabel da Hungria, que também se chamava Isabel, fosse igualmente elevada às honras dos altares: a Beata Isabel de Toss, filha do rei André III da Hungria. Foi princesa herdeira desse reino, depois anexado à monarquia austríaca, dando lugar ao império austro-húngaro, desaparecido em consequência da primeira Guerra Mundial.
Para além destas três santas Isabel, parentes pela sua relação com a Casa Real húngara, há ainda mais membros desta família real que foram também canonizados ou beatificados. Com efeito, o rei Bela IV da Hungria, irmão de Santa Isabel da Hungria e
tio-avô da nossa Rainha Santa, teve uma geração verdadeiramente abençoada, pois quatro das suas filhas foram elevadas aos altares: Santa Margarida, Santa Cunegunda, a Beata Iolanda e a Beata Constança, que foi tetravó de São Casimiro da Polónia!
Mas os santos da família real húngara não ficam por aqui porque, para além de Estêvão, o santo fundador da monarquia magiar, e seu filho Imre, ou Américo, também canonizado, há ainda que referir Santa Irene da Hungria, que casou com o imperador romano do Oriente, João II, bem como o pai dela, São Ladislau, filho do rei Bela I. Ou seja, entre o século X e meados do século XIV, a família real húngara teve 11 santos – sem contar com a nossa rainha porque, embora descendente dessa família, já não fazia parte da respectiva Casa Real – entre os quais três foram apenas beatificados, e os restantes sete chegaram a ser canonizados! É caso para dizer que, com tantos santos na família, a nossa rainha santa não tinha mais remédio do que o ser também! Com estes santos estava também remotamente aparentado o último imperador austro-húngaro, Carlos I, que morreu na Madeira e que também foi beatificado.
Como escreveu Nicolai Berdiaev, “a tradição é a fé viva dos que já morreram; e o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem”. A vida é movimento e, por isso, tudo o que é vivo cresce e se desenvolve, em ordem à plenitude da perfeição. Pelo
contrário, quem não acompanha o dinamismo da fé, fica imobilizado no passado. Hoje, seria anacrónico viver a fé como os nossos antepassados, mas a tradição da sua virtude deve ser estímulo para que em todas as famílias cristãs, qualquer que seja a sua
condição social, haja também agora abundantes frutos de santidade.