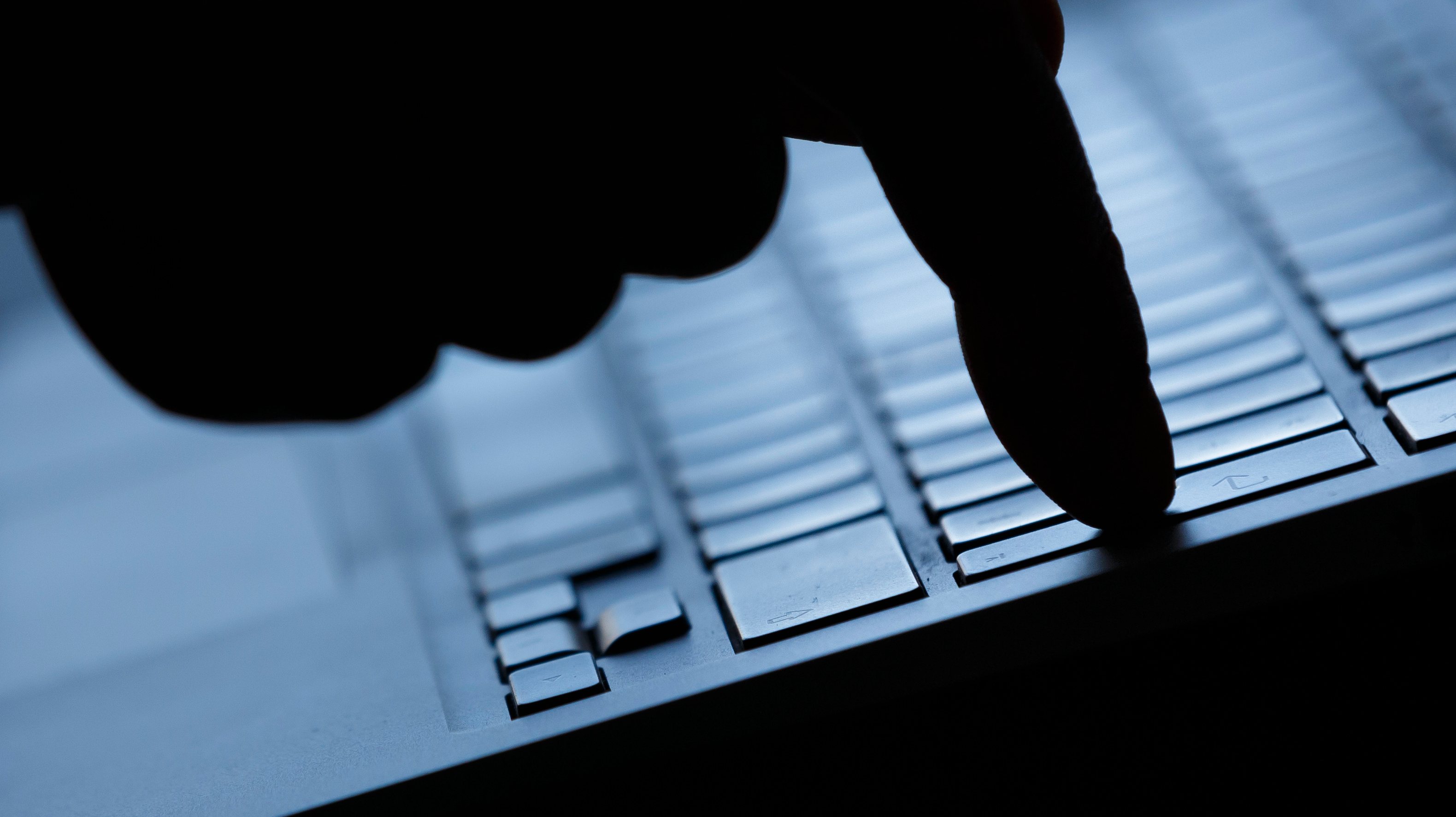Todos falamos da família como o sítio onde estamos em casa. E talvez seja por isso que casa e família se confundam, tantas vezes. Mas nem sempre uma família é o lugar onde todas as pessoas sabem gostar de nós. E, só por isso, nem sempre é um lugar onde temos lugar. Aliás, numa família moram muitas das palavras que nunca nos disseram. E a saudade por imensas coisas (preciosas!) que nunca lá vivemos. Porque nem sempre as pessoas da família são atentas e acolhedoras ou delicadas e aconchegantes. E é por isso que, nem sempre, junto delas, nos sentimos em casa.
É claro que uma família não pode ser, unicamente, um património de memórias. Ou uma história, intensa de episódios, que se reparte e se reconta. Uma família precisa de muito mais para ser uma família. Seria, se ela corresse bem, uma peregrinação que não termina. Mas, muitas vezes, é um impasse que nunca se resolve. E é, talvez, por isso que, quando falamos dela, a família tão depressa nos comova, como se fosse a “reserva natural” da bondade como, a seguir, nos doa e nos agaste, por tudo aquilo em que nos falta.
E é aqui que não se entende a forma passiva, “preguiçosa” e silenciosa como os pais se colocam diante da família. Esperando que ela adivinhe os seus silêncios. Se antecipe a todos os melindres. E “ponha a zero” aquilo de que eles se ressentem. Esperando que sejam os seus próprios pais que venham até si, ressarcindo (neles, mais do que nos netos), todos os “amo-te!”, que nunca foram ditos. E os “estou orgulhoso por ti!”, pelos quais sempre se esperou. E todos os brincares que não se teve. E as histórias que nunca se contaram. E o tempo, sem tempo, que não se deu. É porque resgatam os pais que os pais não desistem dos filhos. Doutra forma: os pais iludem-se quando, ao serem pais, supõem que a família começa do zero. Como se fosse possível guardarem os mais delicados dos ressentimentos, em relação aos seus pais, e a melhor das esperanças para os seus filhos. Como se pudessem ser atentos como pais e omissos como filhos. Como se fossem ser capazes de ser bons pais enquanto são “maus filhos”. Como se pudessem coleccionar cicatrizes de infância ao mesmo tempo que, ao pé de si, os seus filhos se sentissem em casa.
A pergunta que se põe, a seguir, é se uma família devia ser como um presépio. E não tem de ser assim. Ou se, pensando nela, devíamos gostar dos dois pais do mesmo modo. E também não. Ou — mais sensível, claro — se numa família é suposto que se goste de todos os filhos da mesma forma, milimetricamente, igual. E a resposta é, também ela: não! Ou — mais ligeiro — se não preferimos um irmão aos outros. E é verdade que é assim que isso acontece. E se, mesmo quando nos sentimos “o filho querido”, se uma família é um exemplo de justiça. E, sim, dizemos que todos: “sim!”, pensando, muitas vezes, no contrário. Ou se, finalmente, ela será a reserva natural da bondade humana. E claro que, um ror vezes, não o é. Uma família não precisa de ser exemplar. Pode ser desajeitada. Pode ser desarrumada. Pode ser desafinada! O que não pode ser é amiga do silêncio e, ao mesmo tempo, ser a nossa casa.
É verdade que, quando nascemos, somos duma fragilidade tamanha que a nossa falta de autonomia exige que tenhamos pessoas que olhem por nós. E é, também, verdade que tivemos a sabedoria de transformar uma necessidade básica em vinculação e a vinculação em amor. E o que seria frágil e transitório transformou-se naquilo que nos dá vida e esperança, para sempre. É verdade que sem uma família, morreríamos, ao nascer. Mas é, também, verdade que, ao vivermos numa família sem nos sentirmos em casa, morremos, de não viver. Todos os dias.