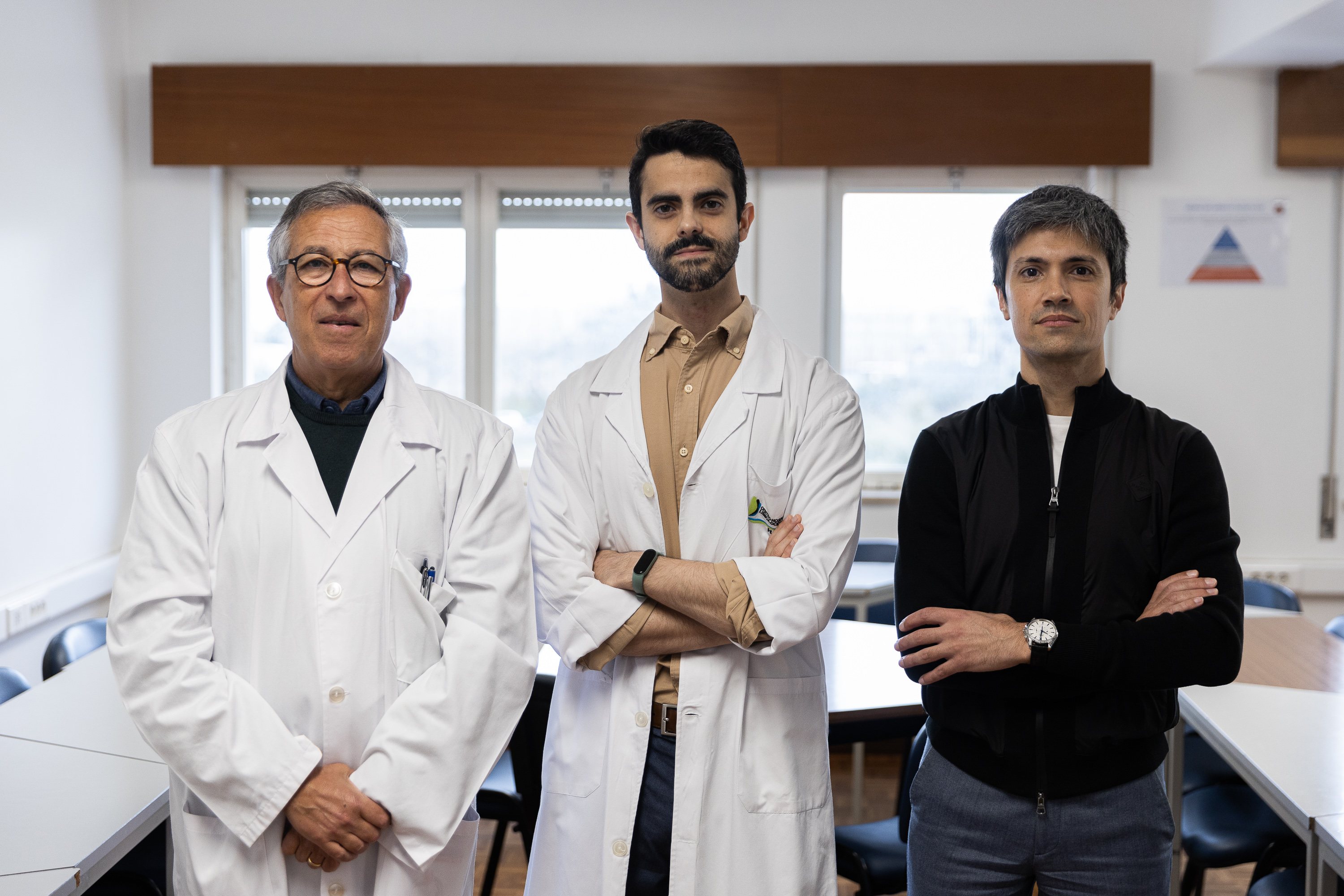Primeiro olham à volta. Procuram a origem da voz, varrem a rua com os olhos, ficam na dúvida se é para eles. Continuam a andar. Até que disparamos novamente: “Bom dia!” E aí sim, olham para cima, na direção do som. Na varanda do segundo andar, um homem careca em pijama e uma criança de caracóis e óculos, em roupão, sorriem enquanto fazem adeus. A pessoa em baixo ensaia um sorriso, hesita. Está desconfiada. “Isto é mesmo para mim”, parece perguntar. Uns param, outros abrandam o passo, uns poucos continuam a andar. E depois vem a explicação que desarma: “Estamos a dar os ‘bons dias’ aos vizinhos que passam. Bom dia para si.”
O careca sou eu, a criança é a minha filha Carolina, os vizinhos são todas as pessoas que cruzam esta rua do centro de Lisboa por volta das nove da manhã. Pouco importa se vivem por aqui ou não. O rótulo de “vizinho” é um detalhe.
Apesar de ontem ter sido o primeiro dia oficial com escolas encerradas em todo o país por ordem do Governo, como medida de contenção do novo coronavírus, esta terça-feira é para nós o quinto dia de um isolamento que começou na sexta-feira – e será mais um dia em que iremos à varanda cumprimentar quem passa.
Na segunda-feira a irmã da Carolina juntou-se a nós. A Madalena trouxe o sorriso mas este veio às cavalitas da vergonha e por isso não quer falar com estranhos. A Carolina não. Fala, sorri, pergunta se está tudo bem, completa as minhas frases. Uns ficam por ali a dar dois dedos de conversa connosco, outros limitam-se a fazer adeus e continuam.
A Carolina tem 7 anos, a Madalena tem 6 (sim, vieram de rajada, têm 17 meses de diferença) e, à semelhança de centenas de milhares de crianças pelo país fora, já perceberam que isto vai ser assim nos próximos tempos. Podemos guardar as luvas descartáveis, esconder os frascos de desinfetante, arrumar as máscaras que de repente entraram cá em casa. Mas elas sabem que há um vírus, que anda por aí, conhecem-lhe o nome, têm medo dele. Sabem que mata. Por enquanto a morte está só nas notícias, não está no mundo que elas tocam e onde se movem, mas elas sabem que pode cá chegar. Nós sabemos que pode cá chegar.
Sabem que a palavra “Itália” soa a campainha terrível para os pais e sabem que ficamos preocupados quando ouvimos as notícias – as mesmas que já tentamos desligar quando as miúdas paralisam em frente ao écran a ver imagens de hospitais, máscaras e ambulâncias.
A Carolina e a Madalena sabem que muitas daquelas pessoas que aparecem na televisão com fatos protetores são profissionais de saúde, como a mãe, enfermeira, que enfrenta um dos maiores desafios da vida e da carreira, e sabem que os aplausos para os heróis do SNS que se ouviram na noite de sábado eram também para a Sofia – e foi bonito vê-las a bater palmas à mãe.
Sabem que todos os meninos e todas as meninas do país estão em casa e sabem que as redes sociais ajudam a encurtar a distância (já falaram ambas com amiguinhos através do Whatsapp). Sabem que de vez em quando poderemos ir à rua esticar as pernas – e sabem que não devem tocar em nada, muito menos em pessoas. Mas sabem que será sobretudo a varanda, esta de onde lançamos “bons dias” como quem dá beijos, que vai representar a liberdade condicional desta prisão domiciliária. Só não sabem durante quanto tempo.
Se eu estivesse sozinho a acenar às pessoas, era capaz de ser estranho. Um homem adulto numa varanda, a cumprimentar quem passa, talvez arrancasse sorrisos mas não arrancava empatia. No campo a coisa seria diferente – toda a vida cumprimentei e vi cumprimentar as pessoas que conhecemos e que não conhecemos na aldeia beirã da minha mãe para onde rumamos todos os anos. Mas na cidade grande, enfiados em prédios, enfiados em automóveis, enfiados em escritórios, enfiados nas nossas vidas, passamos o tempo a correr sem parar para cumprimentar o vizinho da frente. Nem sequer sabemos o nome dele. Até ao dia. Até ao dia em que, obrigados a passar esse dia, e o outro, e mais outro e outro ainda fechados em casa, resolvemos abrir essa porta e essa janela. Partir essa parede de vidro.
Foi assim que fiquei ontem a saber o nome do Rodrigo, o menino de 6 anos que vive no prédio em frente, que eu vi crescer ao mesmo tempo que as minhas filhas, cuja mãe engravidou mais ou menos ao mesmo tempo que a minha mulher, e com quem nunca, mas nunca tínhamos falado.
Eu, que gosto tanto de falar com o Paulo da loja de estofos, com a D. Paula da lavandaria, com o Carlos e o Bruno do café, com a D. São da engomadoria ou com o Sr. Zé Luís da loja de artigos elétricos, nunca tinha perguntado aos pais do Rodrigo como se chamava o filho. Até ontem, quando ele e a mãe abriram a janela em reação aos nossos bons dias e por ali ficaram um pouco a falar connosco.
Damos amor e recebemos amor. Damos simpatia e recebemos simpatia. Foi a minha filha quem mo disse quando estávamos na varanda, à medida que ia assistindo à reação das pessoas. Eu limitei-me a concordar, enquanto pensava que, se calhar, vamos mesmo sair melhores pessoas de tudo isto. Até lá, um “bom dia” de um desconhecido pode saber ao abraço que não podemos dar agora. E por isso precisamos tanto das palavras. Como as daquela senhora que, depois de parar com a filha para responder ao nosso cumprimento, se deteve uns metros à frente e se voltou novamente para trás para nos lançar a frase que tem servido de mantra para estes dias, em forma de hashtag nas redes sociais e assinatura de cartazes: “vai ficar tudo bem”. E repetiu, a olhar para nós: “vai ficar tudo bem”.
Acho que foi a primeira vez que senti lágrimas nos olhos desde que começou este isolamento. Aquelas palavra da vizinha souberam mesmo a abraço.