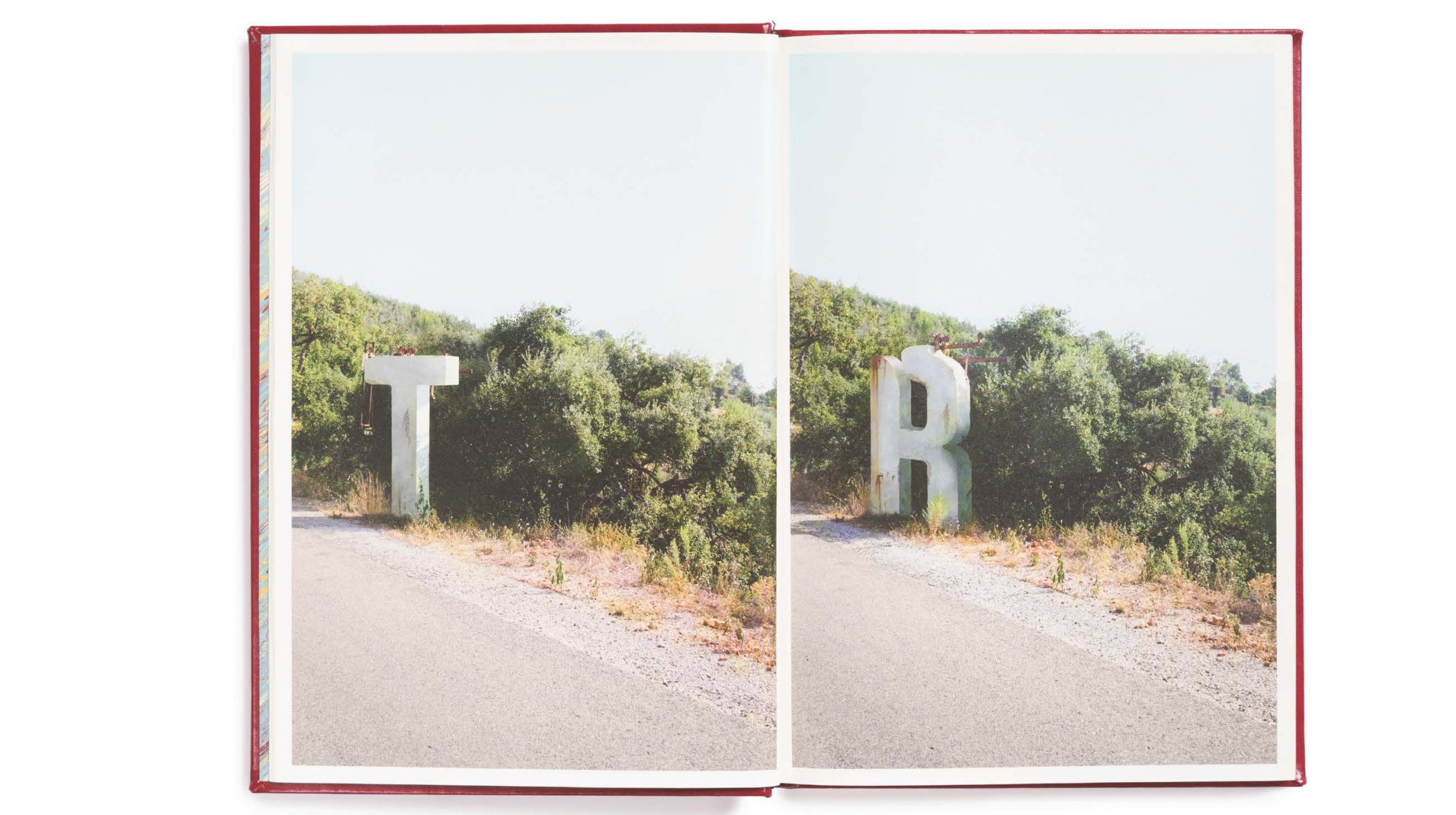Índice
Índice
[esta é a primeira parte de um ensaio em quatro artigos]
À medida que o wokismo conquista territórios que se imaginariam a salvo da irracionalidade e do dogma e o seu discurso se torna mais afoito e petulante, há quem, considerando que não se trata de uma voga frívola e passageira, mas de uma séria ameaça civilizacional, se tenha dedicado a dissecá-lo e a denunciar os seus fundamentos, métodos e propósitos.
O filósofo francês Jean-François Braunstein (n.1953) tem tido como principal área de interesse a história das ciências e a filosofia das ciências, publicando livros sobre assuntos tão alheios à esfera da “actualidade” como as bases filosóficas da doutrina médica proposta pelo cirurgião oitocentista François Broussais ou as componentes, implicações e utopias biológicas e médicas do positivismo de Auguste Comte. Porém, em 2018, Braunstein voltou-se para um tema de grande actualidade e candência, publicando La philosophie devenue folle: Le genre, l’animal, la mort (A filosofia enlouqecida: O género, o animal, a morte), um veemente alerta contra “a eliminação da diferença sexual, a animalização do homem, o apagamento da morte”, três correntes ideológicas que, no seu entender, conduzem a um “mundo informe, sem limites nem fronteiras”.

Jean-François Braunstein
Em La religion woke (2022) Braunstein retoma o tema da identidade de género e da abolição do corpo biológico, junta-lhe outras componentes centrais do wokismo – como a “teoria crítica da raça” e a “epistemologia do ponto de vista”– e, sem receio de ser polémico ou ofender sensibilidades, analisa a génese e a natureza de uma ideologia que começou por ser vista como uma excentricidade circunscrita a algumas universidades americanas e se converteu “numa onda de loucura e intolerância [que] está a varrer o mundo ocidental”. O livro chega agora a Portugal sob o título A religião woke, com tradução de Ana Pinto Mendes e pela mão da Guerra & Paz, inserido na mui pertinente colecção “Os livros não se rendem”, consagrada a ensaios que constituem marcos culturais e que, não obstante, não tinham ainda sido alvo de edição portuguesa. Enquanto os outros títulos editados até agora na colecção têm já algumas décadas (Tempestade de aço, de Ernst Jünger, tem mesmo mais de um século) e ganharam o estatuto de “clássicos”, A religião woke é muito recente, mas tem qualidades para também se converter numa obra de referência.
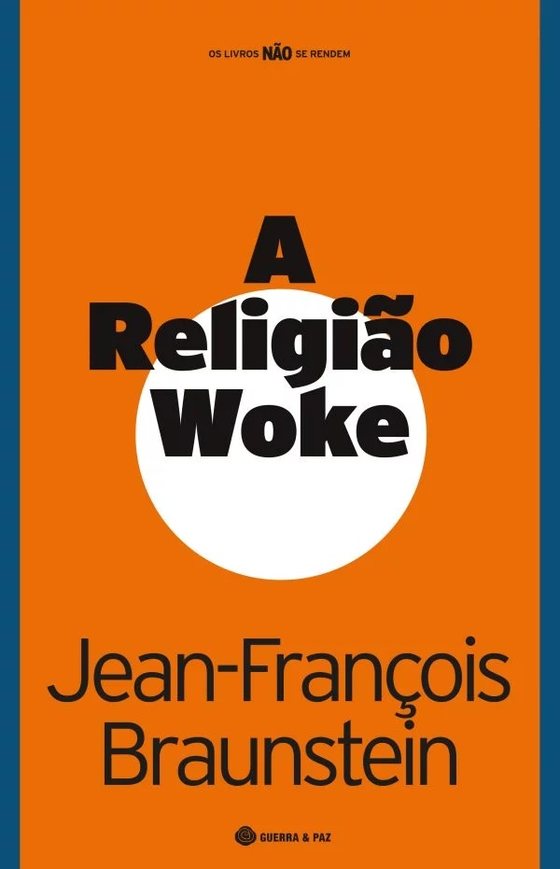
A capa da edição portuguesa de “A Religião Woke”, de Jean-François Braunstein (Guerra & Paz)
De olhos bem abertos
A ideia de “despertar” era usada pelos activistas negros americanos, desde a segunda metade do século XIX, para descrever a tomada de consciência da sujeição que lhes era imposta pela sociedade e o imperativo de congregar forças para reivindicar um tratamento justo. Nas primeiras décadas do século XX, essa consciência racial foi sendo expressa pela palavra “woke”, que, nalgumas variantes do inglês usado pelos afro-americanos, é sinónimo de “awake” = “desperto”. O uso de “woke” neste contexto e com este sentido manteve-se marginal e só começou a ganhar curso na segunda década do século XXI, e em particular a partir de 2014, com o assassinato de Michael Brown, um rapaz negro, por um polícia, em Ferguson, Missouri, em Agosto de 2014, que deu forte impulso ao movimento Black Lives Matter.

A polícia usa gás lacrimogénio para dispersar manifestantes que protestam contra a violência policial, Ferguson, em Agosto de 2014
O uso alastrou tão rapidamente que, em 2017, o termo foi reconhecido pelos dicionários de referência, com o significado de alguém desperto para o preconceito e para a discriminação racial; entretanto, o uso de “woke” alargou-se a outras questões identitárias que não a étnica e passou a designar alguém particularmente atento a preconceitos, discriminações e desigualdades sociais de vária sorte. Foi preciso mais algum tempo – e mais algumas mortes de negros às mãos da polícia americana em circunstâncias envolvendo “uso desproporcionado de força” – para o termo chegar à Europa, o que aconteceu nos meses, marcados por numerosas manifestações e tumultos, que se seguiram à morte de George Floyd, a 25 de Maio de 2020, em Minneapolis.

Mapa-mundo das manifestações de protesto pelo homicídio de George Floyd
Mais recentemente, o termo sofreu nova mutação, agora por obra dos sectores conservadores americanos, que passaram a usar “woke” com conotação pejorativa, para designar uma hipersensibilidade – estridente, irritante, despropositada e agressiva – a assuntos raciais e identitários em geral. A evolução do significado de “woke” seguiu um percurso similar ao de uma expressão com a qual partilha afinidades: “politicamente correcto”. Quando o conceito de “correcção política” começou a ser promovido pela esquerda, tinha um sentido positivo, designando o cuidado em usar uma linguagem que não ofendesse ou apoucasse indivíduos ou grupos com algum tipo de “desvantagem” (presente ou passada), um comportamento não conforme ao “padrão” ou que fossem vítimas de algum preconceito ou injustiça; depois, os conservadores apropriaram-se do termo e conferiram-lhe conotação negativa, passando “politicamente correcto” a designar um excesso de zelo, muitas vezes insincero, no tratamento de grupos “historicamente oprimidos”, bem como o cerceamento da liberdade de expressão em função desse zelo excessivo.
Puritanos sem Deus
Braunstein, além de fazer a história do termo “woke”, chama também a atenção para o vínculo do wokismo com outro tipo de “despertar”, também ele intimamente ligado à história dos EUA: os Great Awakenings. Estes consistem numa série de “despertares religiosos” protestantes que agitaram aquele território do século XVIII ao início do século XX (com picos de intensidade nos períodos c.1730-55, c.1790-1840 e c.1855-1930). Estes “despertares” foram liderados quase sempre por pregadores inflamados e de linguagem colorida, que galvanizavam o público expondo a natureza pecaminosa do seu comportamento, denunciando o carácter corrupto do mundo, invocando por um deus colérico e implacável e agitando a ameaça de condenação ao fogo eterno; estes cenários tremendistas, por vezes de inspiração milenarista, produziam forte efeito nos ouvintes, que, tomados pelo arrependimento, se convertiam em massa e, com o fervor típico dos recém-convertidos, logo se empenhavam em obter novas conversões.

Edição publicada em Boston em 1741 do sermão “Pecadores nas mãos de um Deus irado”, da autoria do pastor Jonathan Edwards, proferido por este perante a sua congregação em Northamptom, Massachusetts, e repetido, perante uma multidão, em Enfield, Connecticut, a 8 de Junho de 1741, naquele que foi um momento pioneiro do First Great Awakening
Segundo Braunstein, os Great Awakenings “evocam irremediavelmente o entusiasmo dos jovens militantes woke, na sua maioria brancos, que, em grandes reuniões em público, se arrependem do seu racismo e pedem aos militantes negros perdão pelos seus pecados”(pg. 33). “A nova religião é pregada com exaltação por estes novos conversos, que, de repente, sentem ver o mundo de outra forma, descobrem o mal presente neles mesmos e dão um sentido novo à sua vida, combatendo este mal” (pg.34). Braunstein alinha com o filósofo americano Joseph Bottum e, em particular, com a sua obra An anxious age: The post-Protestant ethic and the spirit of America (2014), que postula uma deslocação, mais notória a partir de meados do século XX, das inquietações religiosas das elites WASP (brancos, anglo-saxónicos, protestantes) americanas para o domínio social e político, dando origem a um grupo que herdou dos avós a visão do mundo como estando dominado por forças malignas, a consciência de pertença a uma elite espiritual, a certeza de que fazem parte das “pessoas de bem”, uma grande autoconfiança e um pendor para o puritanismo e para fazer julgamentos sobre os outros. Segundo Bottum, estes “pós-protestantes” distinguem-se dos seus avós sobretudo por não serem religiosos e por o seu puritanismo nada ter a ver com sexo, matéria em que são assaz liberais. E a sua convicção de superioridade moral é tal que, como disse Bottum numa palestra de apresentação de An anxious age no American Enterprise Institute, em Washington DC, a 10.02.2014, “estão determinados a recorrer à lei para impor os comportamentos que consideram serem os correctos”.
A visão de Bottum da deslocação, ocorrida nos EUA, da religião para o campo da política é secundada pelo politólogo Joshua Mitchell, outro autor também citado por Braunstein. Em American awakening: Identity politics and other afflictions of our time, de 2020 (que não faz parte da abrangente bibliografia citada por Braunstein), Mitchell identifica o wokismo com aquilo que designa por Quarto Grande Despertar: “O Despertar que agora estamos a viver tem uma natureza religiosa que se manifesta através da política (ainda que não o reconheça), não tem lugar para o Deus que julga ou para o Deus que perdoa, e conduziu a América a um beco sem saída e para lá do qual nada se descortina. A política identitária faz julgamentos, baseada não em pecados por acção ou omissão, mas nos atributos, publicamente visíveis e insusceptíveis de alteração, que precedem seja o que for que um cidadão faça ou deixe de fazer. A política identitária não prevê perdão pelas transgressões, pois estas são irredimíveis. A política liberal [no sentido americano do termo] esteve, em tempos, consagrada em trabalhar conjuntamente para construir um mundo melhor. A política identitária […] transformou a política num evento religioso de natureza sacrificial. Para já, o irresgatável bode expiatório é o homem branco e heterossexual”.

Encontro campal metodista, EUA, 1839. A Igreja Metodista foi a instituição mais relevante no chamado Second Great Awakening
O wokismo é filho do pós-estruturalismo?
Muitos adversários do wokismo têm identificado a sua origem na filosofia pós-estruturalista, que no mundo anglo-saxónico é também conhecido por French Theory e tem entre as suas figuras de proa Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault, Jacques Lacan ou Jean-François Lyotard. Braunstein rejeita esta tese com vários argumentos:
1) Os pós-estruturalistas “são teóricos puros não se preocupam em agir sobre o mundo” (pg. 19) e são mais “descritivos do que prescritivos”, ao contrário do wokismo, que está apostado em virar do avesso a ordem social.
2) “Os pensadores woke são ultra-identitários que pretendem combater em nome desta ou daquela comunidade oprimida”, enquanto “os filósofos da French Theory […] fazem por perturbar, ou mesmo apagar, as noções de identidade e de indivíduo” (pg.20).
3) O “pensamento sempre irónico e interrogativo [da French Theory] dá-se mal com a boa consciência satisfeita […], a seriedade e a ausência de questionamento que caracterizam o pensamento woke”. “É absoluta a diferença entre indivíduos que jogam com as normas e militantes fanáticos que aderem a uma norma predeterminada sem jamais a questionar. De um lado, filósofos, curiosos e móveis; do outro, militantes e pregadores” (pg. 22).
Porém, Braunstein não considera um importante – e obnóxio – contributo dos pós-estruturalistas para a filosofia: o questionamento sistemáticos dos “factos” comummente aceites, que estes filósofos vêem como meras ficções, criadas e promovidas de acordo com a conveniência quem detém o poder. Allan Bloom, um proeminente opositor do pós-estruturalismo, denuncia esta corrente filosófica em A destruição do espírito americano (que é outro dos ensaios incluídos na colecção “Os livros não se rendem”) nestes termos: “A escola [do] desconstrucionismo [uma ramificação do pós-estruturalismo] corresponde à última fase, previsível, da supressão da razão e da negação da possibilidade de verdade em nome da filosofia. A actividade criadora do intérprete é mais importante do que o texto; não há texto, apenas interpretação. Assim, aquilo que que é mais necessário para nós, o conhecimento daquilo que estes textos têm para nos dizer, passa para o controlo da personalidade subjectiva e criadora destes intérpretes, que negam quer o texto quer a realidade a que este se refere” (ver Platão, Nietzsche e Mick Jagger: Entre guerras culturais e crises civilizacionais). Estas concepções, nascidas no campo da literatura comparada, acabaram por estender-se à filosofia e às ciências sociais e humanidades em geral, promovendo a instabilização dos conceitos de verdade e de objectividade e a ideia de que tudo depende da interpretação.

Roland Barthes (1915-1980), figura proeminente da French Theory
Embriagados por estas “liberdades”, alguns pós-estruturalistas atiraram o rigor intelectual às urtigas e devotaram-se à produção de ruminações sob cuja retórica retorcida, tom assertivo e prosa deliberadamente obscura se ocultava o mais absoluto vácuo. Esta voga instaurou nas ciências sociais e humanidades um clima de “anything goes”, que levou o matemático e físico Alan Sokal a denunciar a proliferação impune de disparates pseudocientíficos forjando um artigo deliberadamente tolo, vazio e estrategicamente polvilhado com clichés de sabor desconstrucionista – afirmava, por exemplo, que “está a tornar-se cada vez mais evidente que a ‘realidade’ física [é, fundamentalmente] uma construção social e linguística” e que a investigação científica “não pode reivindicar um estatuto epistemológico privilegiado face às narrativas contra-hegemónicas que emanam das comunidades dissidentes ou marginalizadas”, e apelava ao desenvolvimento de uma “ciência libertadora” e de uma “matemática emancipatória” que providenciassem “um poderoso apoio intelectual a um projecto político progressista”. O artigo, com o abstruso título “Transgressing the boundaries: Towards a transformative hermeneutics of quantum gravity”, passou praticamente intacto pela “revisão pelos pares” e foi publicado em 1996 (e não em 1966, como se indica, por engano, na pg. 44) pela revista Social Studies. O escândalo que se seguiu à exposição da fraude por Sokal não foi suficiente para que os editores da Social Studies admitissem a sua falta de rigor e discernimento e o seu enviesamento ideológico (pelo contrário, apresentaram desculpas esfarrapadas e acusaram Sokal de comportamento pouco ético), nem para reverter ou mitigar a corrosão das ciências sociais e das humanidades pelo pós-estruturalismo e suas tóxicas derivações, como teriam oportunidade de demonstrar, em 2018, três académicos que, na peugada de Sokal, forjaram e enviaram “para revistas científicas, especializadas em estudos de gender, queer e outros fat studies, uma série de 20 artigos, delirantes e eticamente chocantes”, a fim de “testar as reacções das comissões de leitura destas revistas” (pg. 44).
Em síntese, na sua refutação da filiação do wokismo no pós-estruturalismo, Braunstein deixa por contabilizar a elevada probabilidade de os raciocínios pouco vigiados, a logorreia críptica e a ideia de que os factos não existem e tudo é narrativa (e, logo, todas as opiniões se equivalem), que são típicas do pós-estruturalismo, terem contribuído decisivamente para gerar a “epistemologia do ponto de vista” e o desprezo do movimento woke pela racionalidade, pela objectividade e pela ciência.

Michel Foucault (1926-1984), outro dos papas da French Theory
Por uma “antibiologia ginocêntrica”
A epistemologia do ponto de vista (“standpoint epistemology”), também designada como “conhecimento situado” (“situated knowledge”, termo cunhado em 1988 por Donna Haraway, feminista, especialista em história da ciência e pioneira do wokismo), parte do princípio de que toda a produção de conhecimento está inquinada pela subjectividade de quem o produz (nomeadamente pela sua identidade social) e reflecte as condições em que foi produzido. E como a produção de conhecimento foi, durante séculos, uma coutada exclusiva do cis-heteropatriarcado branco imperialista e colonialista, aquilo que passa por ciência e objectividade mais não será do que uma criação perversa destinada a justificar o poder e os privilégios dessa elite.
O wokismo propõe-se libertar a ciência deste viés secular e “empoderar” os grupos tradicionalmente oprimidos e Braunstein oferece um vislumbre do espantoso chorrilho de tolices, propostas e exigências que têm sido feitas a coberto deste desiderato. Thierry Hoquet, por exemplo, proclamou que “a biologia enviesa-nos. Patriarcal, compraz-se no androcentrismo e no heterossexismo, duas doenças de que deve ser curada, caso contrário está condenada a falhar quando fala das mulheres” e apelou à criação de uma “antibiologia ginocêntrica, matriarcal ou homossexual” (pg. 140). “Chandra K. Raju, professor universitário indiano e vice-presidente da Academia Indiana das Ciências Sociais, explica que, para se descolonizar verdadeiramente a ciência, é preciso pôr em causa a sua objectividade e universalidade” (pg. 147). Linda Nordling, pleiteando por uma “ciência africana”, afirmou ser preciso “desmantelar a hegemonia dos valores europeus e dar lugar à filosofia e às tradições locais que os colonos puseram de lado” (pg. 147-48).
Este tipo de ideias tem vingado nas universidades e tem ganho contornos inquietantes – como escreve Braunstein, “não é apenas um snobismo passageiro e sem consequências. Defrontamo-nos com militantes que se entusiasmam pela sua causa. Não são professores universitários, mas sim combatentes ao serviço de uma ideologia que dá sentido à sua vida”. Braunstein compara os militantes woke mais radicais aos “guardas vermelhos chineses durante a Revolução Cultural” e recorda a resposta dada por um deles a Brett Weinstein, um professor do Evergreen State College (em Olympia, estado de Washington, EUA), que, durante os desacatos de inspiração woke que assolaram aquela universidade em 2017, tentou chamar os estudantes “amotinados” à razão: “Pára de argumentar, a lógica é racista”.

Manual escolar chinês, 1971: Jovens Guardas Vermelhos zelam fervorosamente pela ortodoxia das palavras e do pensamento
Seria ingénuo pensar que a epistemologia do ponto de vista seria uma perspectiva tão esdrúxula e tão afastada da realidade que apenas poderia medrar na estufa dos departamentos de estudos africanos ou de estudos de género. A verdade é que ela foi alastrando pelo meio académico e está hoje a infiltrar-se em variadas áreas de conhecimento e a implantar-se na linguagem e na mundividência de boa parte da sociedade.
A ciência como conto de fadas
Braunstein debruça-se sobre os ideólogos pioneiros que, a partir do final da década de 1980, contribuíram para fomentar a epistemologia do ponto de vista, como Donna Haraway (n.1944), Sandra Harding (n.1935), Patricia Hill Collins (n.1948) e Helen Longino (n.1944). Dá também atenção aos activistas woke que floresceram no século XXI, como Robin DiAngelo (n.1956) e Ibram X. Kendi (n.1982), que denunciam a falácia do conceito de objectividade, “uma crença […] associada ao posicionamento dos brancos fora de qualquer cultura […] [e que] permite que os brancos se considerem seres humanos universais que podem representar toda a experiência humana” (segundo DiAngelo). Porém, Braunstein deixa de fora um pensador que prefigura claramente muitas das “teorias” e posições defendidas pelo movimento woke, no domínio da epistemologia do ponto de vista e da oposição objectividade vs. subjectividade e “saberes situados” vs. ciência: o filósofo austríaco Paul Feyerabend (1924-1994), pai do relativismo epistemológico (ver capítulo “A cada um a sua verdade” em George Santos, a verdade da mentira e a política no século XXI). A obra mais conhecida e influente de Feyerabend, Against method: Outline of an anarchistic theory of knowledge (Contra o método: Esboço de uma teoria anarquista do conhecimento), publicada em 1975 pela New Left Books, pode ser vista como estando para a ciência e para o conhecimento como Mein Kampf está para a política.
Em Against method, Feyerabend defende que “numa democracia, as instituições científicas e os programas de investigação devem ser submetidos ao controlo do público; deve existir uma separação entre Estado e ciência tal como existe entre Estado e instituições religiosas, e a ciência deve ser ensinada como apenas uma perspectiva entre muitas outras e não como a única via para a verdade e para a realidade” e exorta a que todos, “peritos e leigos, profissionais e diletantes, obcecados com a verdade e mentirosos”, sejam convidados a contribuir para a produção de conhecimento não-dogmático e para “o enriquecimento da nossa cultura”. Os cientistas não gozarão, nesta “comissão alargada”, de uma posição de privilégio e autoridade: “A tarefa do cientista já não é ‘a busca da verdade’, ‘exaltar Deus’, ‘sintetizar observações’ ou ‘fornecer predições mais exactas’. Estes são apenas efeitos colaterais de uma actividade cujo principal foco passará a ser ‘dar força ao argumento mais fraco’” (presume-se daqui que os investigadores em farmacologia deverão colocar em segundo plano o desenvolvimento de novas moléculas para combater o cancro e concentrar esforços em encontrar argumentos em apoio da homeopatia e dos florais de Bach).
Em contraponto ao “método científico”, Feyerabend propõe uma “metodologia pluralista”, em que “[o cientista] deve comparar ideias com outras ideias, em vez de as cotejar com resultados experimentais, e as teorias que ficaram para trás na competição, devem ser, não descartadas, mas aperfeiçoadas. Desta forma, [o cientista] recuperará as teorias sobre o homem e o cosmos que se encontram no Génesis ou no Poimandres [um dos 14 tratados do Corpus Hermeticum, uma colecção de escritos esotéricos de pendor teológico-filosófico dos séculos I-III d.C.], irá desenvolvê-las e usá-las para aferir o sucesso da [teoria da] evolução e de outras perspectivas ‘modernas’. Poderá, então, concluir que a teoria da evolução não é tão boa como tem sido assumido e que terá de ser complementada, ou integralmente substituída, por uma versão melhorada do Génesis”. O conhecimento deixa, assim, de ser, “uma série de teorias autoconsistentes que convergem para uma visão ideal, nem uma aproximação gradual à verdade. É antes um oceano em permanente expansão de alternativas mutuamente incompatíveis e em que cada teoria, cada conto de fadas, cada mito que dele faz parte induz os restantes a articularem-se melhor, e em que o todo, através deste processo competitivo, contribui para o desenvolvimento da nossa consciência. Nada ficará, alguma vez, estabelecido e nenhuma perspectiva será, alguma fez, excluída da visão global” (impõe-se, portanto, que a comunidade científica peça perdão por ignorar ou ridicularizar os terraplanistas e passe a convidá-los a apresentar comunicações nos congressos de geografia, astronomia e cosmologia).
Ao longo de Against method é várias vezes repetida a ideia de que “uma ciência que insiste em reivindicar possuir o único método correcto e os únicos resultados credíveis é uma ideologia e, como tal, deverá ser separada do Estado e, em particular, do sistema educativo”. Feyerabend, falecido em 1994, gostaria certamente de saber que hoje, um pouco por todo o mundo ocidental, se multiplicam as escolas disponíveis para acolher os “saberes” trazidos de casa, da rua e das redes sociais pelos alunos; para substituir o ensino da matemática (pretensamente) “universal” (mas na verdade “branca”) pelo da “etnomatemática” (isto é, a matemática correspondente a cada grupo étnico ou cultural); e para aceitar que a sintaxe rudimentar, o vocabulário curto e dominado pelo calão e o abuso da muleta “tipo” (“like”, nos anglófonos), com que tentam disfarçar a atroz insuficiência da sua expressão oral, são inerentes à subcultura juvenil (e ao seu meio social e étnico) e não devem ser alvo de correcções em nome de uma norma erudita e castradora.

Paul Feyerabend (1924-1994)
No artigo “How to defend society against science”, publicado, no mesmo ano de Against method, na revista Radical Philosophy, Feyerabend afirma pretender “defender a sociedade e os seus membros de todas as ideologias, incluindo a ciência. Todas as ideologias devem ser vistas em perspectiva. Não devemos tomá-las muito a sério. Devemos lê-las como contos de fadas, que contêm muitas coisas interessantes, mas também albergam mentiras malévolas”. Neste artigo, Feyerabend lamenta que a ciência desfrute de um estatuto que a coloca acima das críticas: “Os juízos dos cientistas são hoje recebidos com a mesma reverência que, há não muito tempo, acolhia os juízos dos bispos e cardeais […] A ciência tornou-se hoje tão opressiva como as ideologias que ela, em tempos, teve de defrontar. Não se deixem iludir pelo facto de, nos nossos dias, ninguém ser executado por aderir a uma heresia científica. Isto nada tem a ver com a ciência em si mesma; resulta sim das características gerais da presente civilização. Todavia, os hereges da ciência estão sujeitos às mais severas punições que esta civilização relativamente tolerante tem para oferecer”, um trecho que certamente merecerá a entusiástica aprovação das seitas conspiracionistas que hoje florescem nas margens da Cloaca Maxima das redes sociais (como sejam, por exemplo, os antivaxxers). Feyerabend conclui o artigo com “três vivas aos fundamentalistas da Califórnia que lograram que uma formulação dogmática da teoria da evolução fosse removida de um manual escolar e fosse nele incluída o relato do Génesis”.
Não há qualquer dúvida de que Feyerabend é santo padroeiro, não só da Igreja Woke, como dos sandeus das mais variadas inclinações que pululam pelo vasto mundo – mesmo que nunca tenham ouvido falar do filósofo austríaco e nunca tenham lido um livro, de filosofia ou outro assunto, em toda a sua vida.
A universidade ainda é a “casa da razão”?
Sejam quais forem os contributos dos diferentes pensadores para a génese das ideias woke, é indiscutível, segundo Braunstein, que estas “se desenvolveram antes de mais nas universidades […] Actualmente, a universidade está fabricar a sua própria religião. O conteúdo da doutrina woke, quer se trate da teoria de género, da teoria crítica da raça ou da interseccionalidade, são ‘estudos’ de todo o tipo, que se converteram no âmago das actividades universitárias actuais, e as velhas ‘disciplinas’ cedem-lhes progressivamente o lugar” (pg. 38). Claro que, uma vez que o meio está dominado pelo unanimismo e os pressupostos estão fixados – qualquer estudo de raça, por exemplo, tem de assumir que o racismo é “sistémico” – os resultados estarão necessariamente em sintonia com os dogmas; ou seja, os “estudos” limitam-se a “[validar] escolhas militantes feitas previamente” (pg. 39).
A origem universitária da religião woke torna “extremamente difícil propor uma crítica científica da mesma, considerando que esta nasceu no seio da própria instituição que se encarregou, depois do Iluminismo, de defender a ciência contra as usurpações do pensamento religioso” (pg. 39). Neste trecho de Braunstein ouve-se um eco do alerta lançado por Allan Bloom em A destruição do espírito americano, em 1987: “considerando que, mais do que qualquer outra nação do passado, as nações modernas se fundaram nos vários usos da razão […], ter uma crise na universidade, a casa da razão, é talvez a crise mais profunda que [aquelas] podem enfrentar” (ver Platão, Nietzsche e Mick Jagger: Entre guerras culturais e crises civilizacionais). Douglas Murray, outro tenaz opositor do wokismo fez, em 2019, denúncia similar em A insanidade das massas: Como a opinião e a histeria envenenam a nossa sociedade, obra várias vezes citada por Braunstein: “O objectivo de largas secções da academia deixou de ser a exploração, a descoberta ou a disseminação da verdade. O objectivo tornou-se, pelo contrário, a criação, promoção e propagandização de uma marca peculiar de política” (ver Como a “identidade” se converte em dogma e cegueira).

Selina Todd, historiadora com relevante obra sobre a classe trabalhadora e o papel e os direitos das mulheres, faz parte do número crescente de professores universitários e intelectuais que têm sido alvo de ameaças e boicotes pela parte do wokismo – a ponto de a Universidade de Oxford, onde lecciona, contratar seguranças para a proteger. Tudo isto por Todd ser, alegadamente, “transfóbica”, ou seja, por ter denunciado publicamente algumas teorias woke na área transgénero como “tendenciosas e anticientíficas”
O filósofo americano Peter Boghossian sintetizou a origem universitária da religião woke, no artigo “Idea laundering in academy”, publicado no Wall Street Journal de 24.11.2019, de que Braunstein cita apenas uma linha, mas que tem vários trechos dignos de serem reproduzidos, como este: “Cis-género, ‘fat shaming’, ‘heteronormatividade’, ‘interseccionalidade’, ‘cultura de violação’, ‘patriarcado’ e ‘branquitude’ […] Se ouvimos falar destes termos foi porque foram desenvolvidos ao longo de mais de 30 anos por académicos politicamente engajados e têm andado a infiltrar-se durante todo este tempo. Só recentemente começaram a emergir na cultura de massas. Os académicos lograram este feito ao impingirem as suas ideias como conhecimento; ou seja, como se estes termos descrevessem factualmente o mundo e a realidade social. Ora, ainda que algumas destas ideias contenham elementos de verdade, elas não são científicas. São, essencialmente, ruminações de ideólogos”.
Braunstein descreve assim a rápida difusão do wokismo no mundo exterior à academia: “Esta origem universitária da religião woke tem outra consequência […]: na medida em que as nossas sociedades se tornaram em ‘sociedades do conhecimento’, a conversão das universidades à religião woke faz com que esta se tenha muito rapidamente disseminado no conjunto da sociedade. As consequências são já muito perceptíveis nos professores do ensino primário e secundário, nas redes sociais e nas indústrias culturais, mas também nas empresas e, em primeiro lugar nas GAFAM [Google/Alphabet, Apple, Facebook/Meta, Amazon, Microsoft], que difundem com fervor esta nova religião” (pg. 40). Para mais, dada a sua génese, a religião woke preserva muitos dos defeitos e enviesamentos inerentes à instituição universitária (alguns dos quais foram abordados em Ensino superior e investigação: Há uma fuga de cérebros no país dos senhores doutores?, Ensino superior e investigação: A miragem das pós-graduações e Ensino superior e investigação: Dentro da torre de marfim): “as suas querelas e a sua faceta burocrática, a sua falta de largueza de perspectivas, o seu farisaísmo”; soma-se a isto a tendência dos “‘eleitos’ woke [para conservarem] da sua formação universitária, neste ou naquele ‘estudo’ ultra-especializado, um complexo de superioridade frequentemente deslocado” (pg. 41).
Nota: este é o primeiro de quatro artigos sobre A religião woke. No próximo, abordar-se-á o papel das redes sociais na propagação e radicalização do wokismo.
(o autor escreve segundo a antiga ortografia)