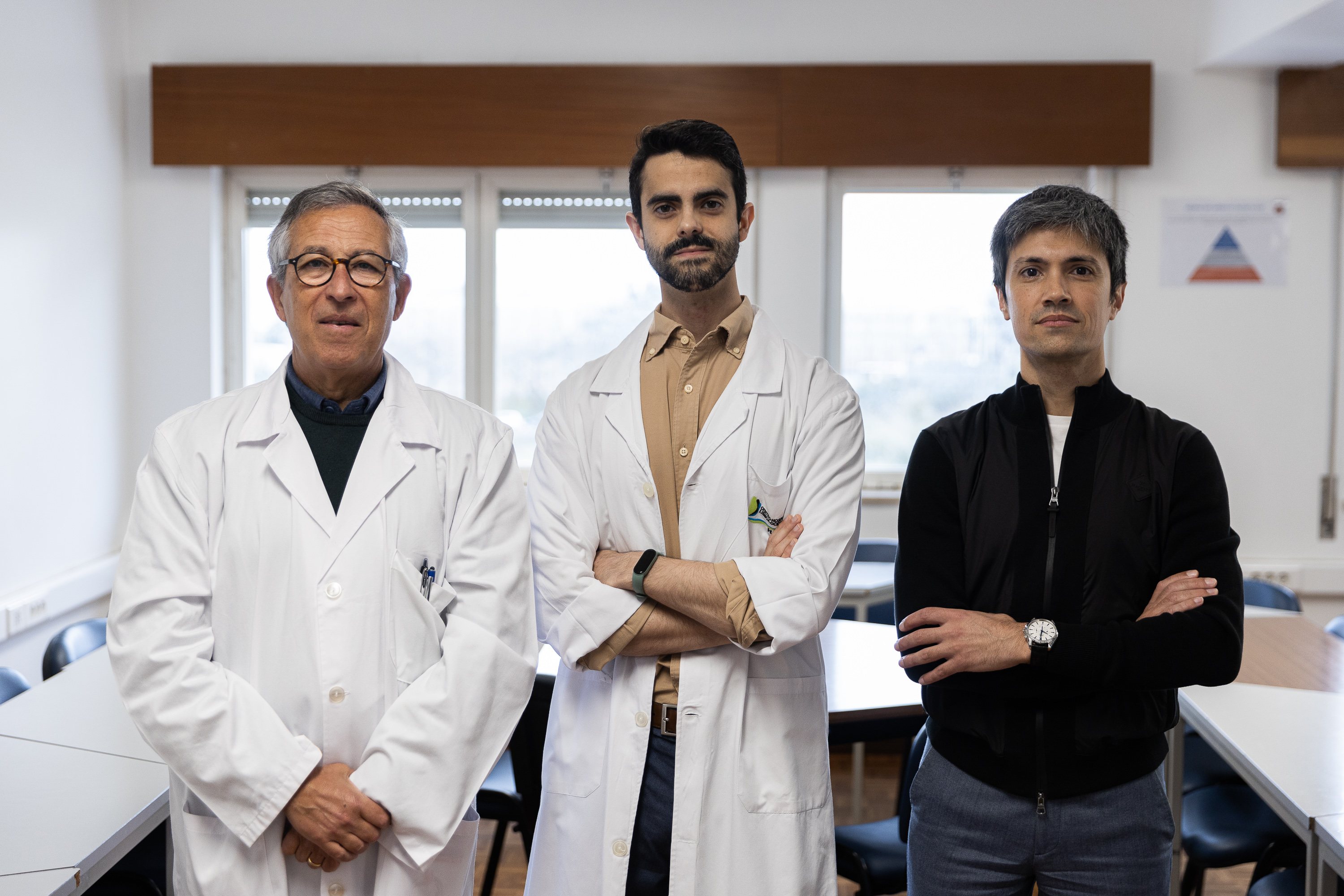Enquanto o país se afunda numa depressão nunca vista e que promete ser muito duradoura, é útil saber o que é que anda a preocupar a esquerda mais vocal, quanto mais não seja para avaliar a coincidência ou a descoincidência das suas angústias com as da população em geral. Felizmente, nestes últimos dias tivemos três amostras muito esclarecedoras do que se passa naquelas cabeças. O artigo de hoje lida com essas amostras. E termina, naturalmente, com uma moral.
A cultura escreve, António Costa responde. A 18 de Fevereiro, o jornal Público publicou uma “Carta aberta da cultura a António Costa”. Assim mesmo: para que não haja dúvidas, os cultos signatários do precioso documento definem-se como a voz autorizada da cultura, que através deles fala. Desde que Heraclito convidou os gregos a não o ouvirem a ele, mas ao logos que a sua voz exprimia, que uma tão grande ambição não via a luz do dia. E para que fala a cultura, qual a razão de ser deste divino exercício da palavra, tão inédito nas páginas de um jornal? Para se queixar da falta de atenção à cultura no célebre Plano de Recuperação e Resiliência há pouco comunicado a uma sociedade doente, inerme e cada vez mais resignada ao desespero provocado pelo seu atraso ancestral. Ora, o tão modesto e trivial propósito desta “Carta Aberta” parece coisa menor quando o coração já palpita com a esperança de uma revelação mística. Mas, enfim, o leitor avança, sabendo que a cultura é capaz de descobrir pepitas de ouro na mais abjecta das cloacas e não convém desesperar, embora a linguagem burocrática utilizada – intervenção “estruturante”, promoção da “resiliência”, “assimetria no acesso aos bens culturais” – não augure, francamente, nada de bom. E, desgraçadamente, nada de bom vem a seguir. Nesta “Carta Aberta” que mais parece ter sido escrita por um computador avariado em auto-gestão e sem vestígio de intervenção humana, o mais que se tira é a ideia, de qualidade duvidosa – e, atendendo à cultura que temos, particularmente inverosímil -, segundo a qual a cultura é um factor de “coesão democrática”. De uma coisa eu tenho a certeza: se o oráculo de Delfos falasse assim, rapidamente perdia os seus clientes.
Seja como for, António Costa, que, como um príncipe do espírito, trata a cultura, com intimidade e à-vontade, por “tu”, publicou, no mesmo jornal, logo no dia 21, uma “Resposta na volta do correio a uma Carta Aberta”. A celeridade parece indicar consideração pela mágica voz da cultura, mas, se lermos a resposta do primeiro-ministro, legítimas dúvidas se levantam quanto à tal consideração. Porque o mais sumarento que António Costa promete à cultura reside nos “investimentos na eficiência energética ou na estrutura digital de equipamentos culturais” e na “capacitação digital dos agentes culturais”. Há, é claro, uma coisa ou outra a mais, mas pouco. Não discuto a necessidade dos “agentes culturais” possuírem “capacitação digital” e de integrarem o seu vasto esforço na “transição climática”, evidenciando toda a sua consabida “resiliência”, mas, visto de fora, sabe a pouco e parece mais a gozar (involuntariamente) com a “Carta Aberta” do que outra coisa. Não foi, no entanto, essa, a acreditar nos jornais, a interpretação da cultura. Com uma excepção ou outra, a prosa de António Costa recebeu bom acolhimento da parte dos “agentes culturais”. Eles lá sabem: provavelmente, com a ajuda de Costa ou sem ela, descobriram alguns possíveis nichos no PRR. No fundo, percebe-se: o computador que escreveu os dois textos, a carta e a resposta, é o mesmo.
Sangue, cadáveres e monumentos destruídos. Ascenso Simões, o deputado do PS, é um génio. Duvidam? É ler o artigo que ele publicou (sempre no Público) a 19 deste mês. Nele, a sua vasta alma recolhe ao seu íntimo e extrai duras verdades para todos nós ouvirmos. Primeira verdade: no 25 de Abril de 1974 “devia ter havido sangue, devia ter havido mortos, devíamos ter determinado bem as fronteiras para se fazer um novo país”. Em posteriores declarações ao Observador, Ascenso Simões explica que o sangue e os mortos eram necessários para um “corte epistemológico” com o passado. Pobre Bachelard, que serve para tudo, até para o uso daqueles que falam de “corte epistemológico” como quem fala de “chicotada psicológica”… Segunda verdade: o Padrão dos Descobrimentos, “num país respeitável, devia ter sido destruído”. É o subtil método que este fino produto do PS julga conveniente para nos ajudar, a bem da nossa decência e respeitabilidade, a ter uma percepção correcta da história: destruir aquilo que, para o bem e para o mal, no-la lembra. Por favor, não o deixem entrar na Torre do Tombo. Terceira verdade: o salazarismo é comparável ao nazismo, por muito que isso custe a certos colunistas. Aqui, o desprezo de Ascenso Simões pelo mais banal sentido das proporções e a simples natureza dos factos atinge proporções cósmicas. Para atingir os patamares de grotesco destas supostas três verdades não basta ser dotado de uma dose colossal de ignorância. É necessário igualmente ser proprietário de uma cabeça inenarravelmente confusa que julga que o caos que a habita é a pedra de toque da verdade. Indiscutivelmente, um caso de estudo para as gerações vindouras.
Um exercício de bajulação. Aparentemente, as “Cartas Abertas” reproduzem-se com grande facilidade. Poucos dias depois da já referida, a 23 de Fevereiro (inevitavelmente no Público) surge uma nova Carta Aberta: “Carta aberta às televisões generalistas nacionais”. Até alguns dos seus signatários – Bárbara Bulhosa e Jorge Silva Melo, que eu tenha notado — são os mesmos da primeira. Se a primeira Carta Aberta se destinava a inquirir junto do Governo quais os nichos que os célebres “agentes culturais” poderiam encontrar no Programa de Recuperação e Resiliência, esta segunda visa desenvolver um sentimento de auto-censura nos jornalistas. Vale a pena citar longamente: “Não aceitamos o tom agressivo, quase inquisitorial, usado em algumas entrevistas, condicionando o pensamento e a respostas dos entrevistados. Não aceitamos a obsessão opinativa, destinada a condicionar a receção da notícia, em detrimento de uma saudável preocupação pedagógica de informar. E não podemos admitir o estilo acusatório com que vários jornalistas se insurgem contra governantes, cientistas e até o infatigável pessoal de saúde por, alegadamente, não terem sabido prever o imprevisível – doenças desconhecidas, mutações virais – nem antever medidas definitivas, soluções que nos permitissem, a nós, felizes desconhecedores das agruras do método científico, sair à rua sem máscara e sem medo, perspetivar o futuro”. O resto do apelo à auto-censura dos jornalistas é, se possível, mais explícito ainda na sua intenção, que se confunde, na prática, com uma vil bajulação do Governo.
Que concluir da conjunção destas três amostras da nossa esquerda – da esquerda efectivamente existente, no sentido em que Brejnev falava, a propósito da defunta U.R.S.S., do “socialismo efectivamente existente”? Que a esquerda, arrogando-se o monopólio da cultura, que supostamente através dela fala, quer assegurar para si, através dos dinheiros da Europa, o imaginário papel de garante da “coesão nacional”. Que, nos seus momentos de maior excitação, defende a necessidade do sangue e da morte dos outros, bem como a destruição dos vestígios do passado, em nome daquilo que, abusando da ignorância e usando palavras cujo sentido realmente desconhece, chama um “corte epistemológico”. Que bajula o poder quando ele está nas mãos dos seus e não hesita em defender a censura em benefício desse mesmo poder. Resumindo: a esquerda utiliza todos os meios ao seu alcance para combater a sociedade. Não é nada de novo, mas, no estado indefeso em que a sociedade se encontra, mergulhada na solidão dos indivíduos, o espectáculo torna-se ainda mais repugnante.