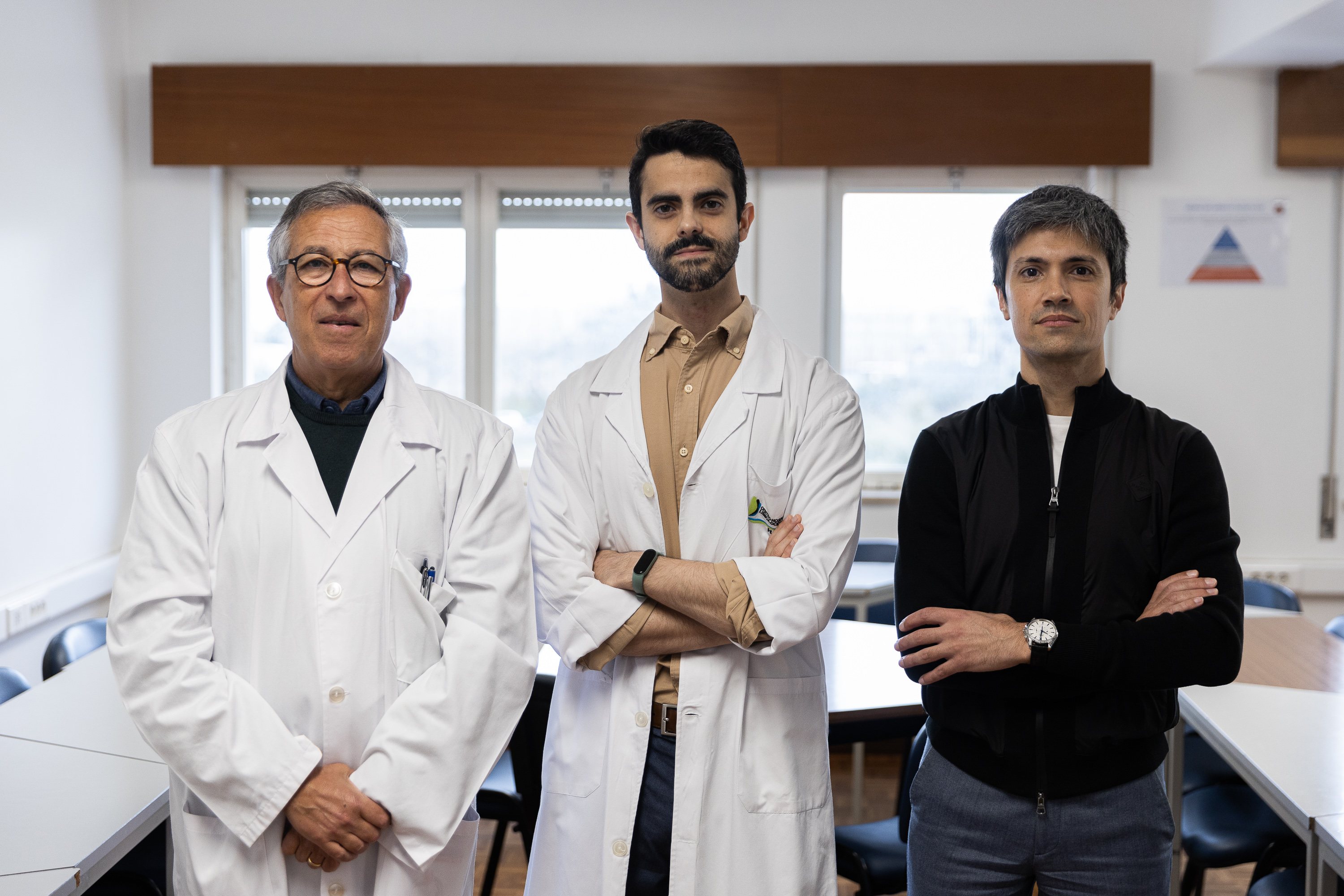“O vírus pode dominar o nosso corpo, mas não devemos permitir que domine as nossas mentes” — esta foi a mensagem central de um inspirado artigo aqui publicado no Observador, no passado sábado, por André Azevedo Alves e Rodrigo Adão da Fonseca. Subscrevo inteiramente esse ponto de vista e por isso retomo a série de “Leituras para Casa” que aqui iniciei na segunda-feira passada: Keep Calm and Carry On.
Começo por Douglas Murray, na Spectator de 28 de Março, com um belo texto sobre “In this strange new world, where do we find purpose?”. Diz ele com grande desportivismo que “como escritor, posso reclamar ter estado em treino para este momento [de auto-isolamento] durante toda a minha vida. Solidão e silêncio têm sido agradáveis, de facto vitais, para mim. E, neste sentido, os dias mais recentes não têm sido muito diferentes dos outros dias. Passo os meus dias como sempre passei em casa: migro da mesa de trabalho para o piano. E aprecio ainda mais o jardim.”
Apesar deste desportivismo britânico (onde não falta o jardim), Douglas Murray admite que os tempos que vivemos colocam questões mais fundas acerca do sentido da nossa existência. A resposta dele continua a ser tipicamente britânica (isto é, céptica relativamente ao despotismo da inovação centralmente desenhada por ‘vanguardas esclarecidas’):
“O mais provável é que continuemos a encontrar sentido nos lugares em que os nossos antepassados encontraram sentido antes de nós. O que os levou a resistir e os alimentou, irá levar-nos a resistir e a alimentar-nos. Eu não sigo muito as notícias. Se a igreja estiver aberta, sentar-me-ei lá. Retomo o contacto com a grande música. Ao fim do dia, leio Anna Karenina.”
[Não posso evitar aqui uma nota pessoal de enfática aprovação. Na minha adolescência, fui literalmente obrigado por meus queridos pais a ler toda a obra de Tolstoy (bem como de Chekhov e Dostoevsky). Lamento ter de confessar que Guerra e Paz foi um verdadeiro tormento (ainda por cima numa volumosa, ainda que bela, edição impressa a duas colunas!). Quando cheguei a Anna Karenina, foi uma libertação. O verdadeiro deslumbramento, contudo, veio mais tarde com a britânica Jane Austen — onde, por contraste com os autores russos, nada de trágico ocorria; apenas era preciso manter boas maneiras, dizer sempre ‘por favor’ e ‘obrigado’ e, acima de tudo, nunca ser agressivo, sobretudo com os subordinados. Além disso, o chá era sempre servido às 5].
Mas há outros autores na Spectator que não partilham o conforto de Douglas Murray com o auto-isolamento. Um caso notório é o de Taky, o ancestral autor grego, residente na Suíça, que assina a deliciosamente elitista e antiquada crónica “High Life”. Taki confessa-se muito aborrecido com o auto-isolamento na Suíça — a olhar para parados campos verdejantes, agora que a neve já passou, com vacas semi-adormecidas e sem poder fazer ski (que continua a praticar, não sei se avisadamente, aos 83 anos). E, sobretudo, sem poder frequentar “dinner-parties”.
É neste momento de aborrecimento que Taki nos recorda mais uma vez aquela que, segundo ele, foi a idade de ouro da civilização ocidental: a década de 1950, em Nova Iorque, apenas antecedida pela era da Grande Geração de Péricles, na sua Atenas natal, no século V a.C…
O que é que era tão especial em New York na década de 1950? Além dos grandes autores — Hemingway, Fitzgerald, Greene e muitos outros — o ponto crucial é que as pessoas se vestiam com distinção: os homens eram masculinos, (usando fato e gravata); as mulheres eram (muito) femininas (não usando sapatos de ténis); e tudo tinha uma atmosfera de suave e romântica elevação. “Esses eram os grandes dias e, sobretudo, as grandes noites” recorda o autor. [Francamente, só na ancestral Spectator, poderia o nosso amigo Taki escrever hoje estas peças tão politicamente incorrectas…]
Por fim, Taki admite, à semelhança de Douglas Murray, que “a leitura, obviamente, é a verdadeira salvadora de vidas. Eu não uso os ‘social media’, por isso os livros são a minha salvação”. Um bom ponto, creio.
Apesar de tudo, vale a pena recordar que uma boa parte das pessoas em casa ‘teletrabalha’ intensamente (o que, francamente, não parece ser o caso dos nossos amigos Taki e Douglas Murray, ainda que este seja vice-director da Spectator). E o teletrabalho pode ser esgotante: reuniões on-line, aulas on-line, enxurradas de e-mails, para já não falar das chamadas ‘redes sociais’ (que eu, inspirado por Taki, praticamente desconheço). Nestes casos (e falo por mim), a suprema ambição pode realmente residir simplesmente em voltar a conseguir ler um livro!
Em suma, talvez pudéssemos acrescentar um novo mandamento à célebre exortação Churchilliana: além de “Keep Calm and Carry On”, poderíamos agora adicionar “Keep Reading Books”.
A notícia da morte de Júlio Miranda Calha, aos 72 anos, no sábado passado, atingiu-me com profunda tristeza. Conhecemo-nos na já distante década de 1980, primeiro na candidatura presidencial de Mário Soares, depois nas duas candidaturas de Jaime Gama à liderança do Partido Socialista (que eu apoiei, embora não tendo filiação partidária). Encontrávamo-nos depois dessa época mais esporadicamente, e sempre com o gosto de convergirmos em posições enfaticamente Atlantistas e pró-ocidentais. Mais recentemente, promovemos em conjunto várias iniciativas civis de apoio à NATO, sendo ele presidente da Comissão Portuguesa do Atlântico. Deputado desde a Constituinte de 1975, Júlio Miranda Calha foi sempre um incansável defensor da democracia liberal e um orgulhoso patriota. Todos nós, democratas e Atlantistas, ficamos a dever-lhe muito. E vamos sempre recordá-lo com saudade, amizade e admiração.