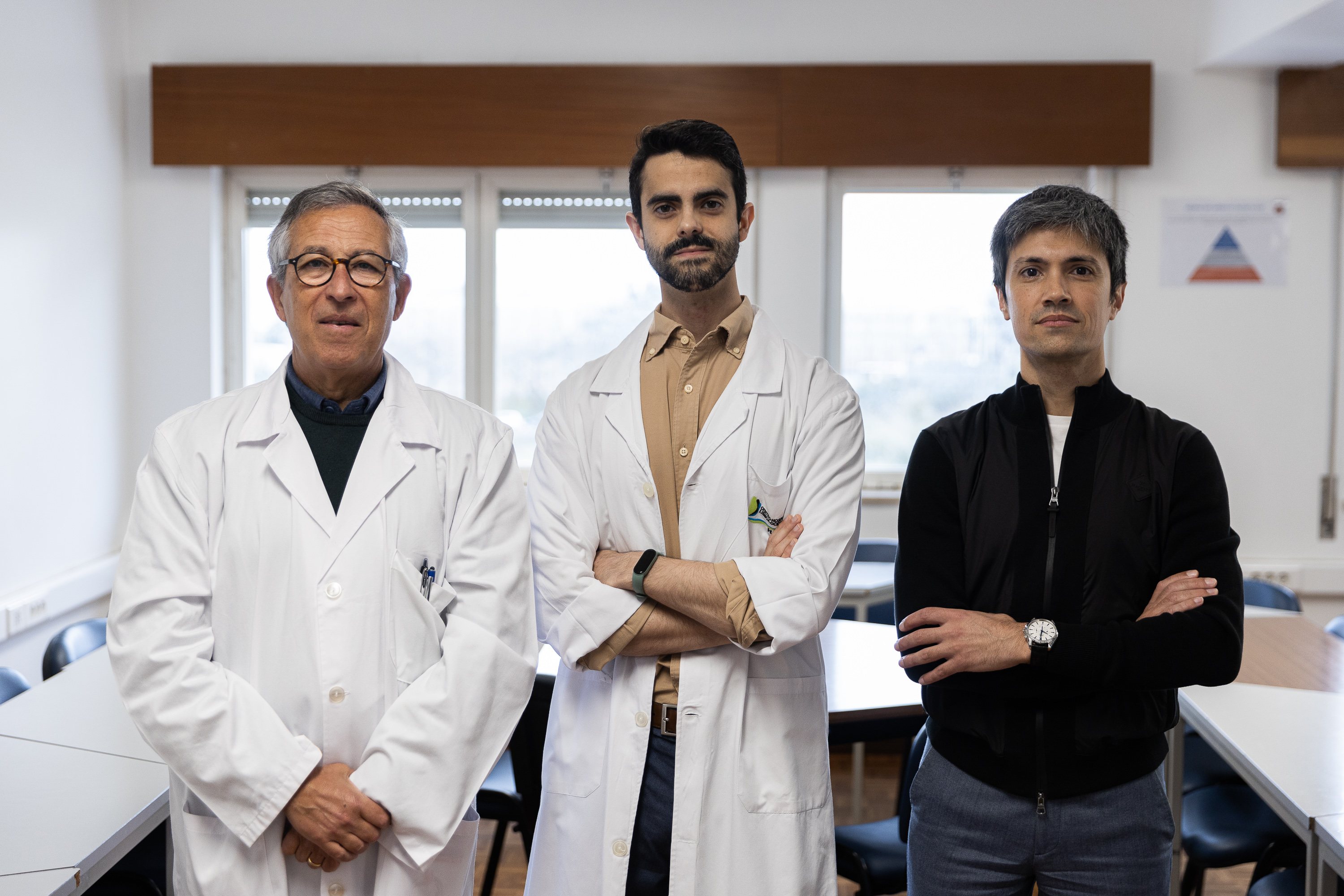1. Durante longas semanas vi o fantasma do Verão galopar à minha frente sem nunca o apanhar. Estranha corrida. Se no Oeste o Verão sempre caprichou, este ano a cor do céu e a zanga do vento transfiguraram-no no ausente desejado (e não só nas minhas moradas).
Para alguém que espera pela “única estação” como por ”outra vida” e se vê desconsoladamente sem ela, não sei se foi mais injusto que triste. Onde estavam os dias sem fim, a luz, as noites quentes e os pés descalços? O solo acre de calor, a vida ao relento, ar quente da esteva cobrindo as dunas, o cheiro a maresia? O mar e as ondas e a volúpia disto tudo?
O desconsolo foi sempre maior que o consolo.
Quando as coisas “impossíveis” acontecem é como um certificado: sabemos que podem acontecer e, por isso, voltar a acontecer. Fica-se desconfiado. E como bem sabe quem é do mar, sem o mar fica-se fora de pé e de sentido. Na cinza das manhãs ou no frio das tardes fui-me virando para outras coisas, descobri algumas, coleccionei outras. Depois guardei-as, a elas, às pessoas com quem me cruzei, aos lugares onde estive. Passara Julho, morria Agosto, entrava Setembro e o Verão foi-me calhando assim.
2. Sorte minha, calharam-me as mãos de Artur Pizarro. Um deleite, num pequeno palco em Óbidos. Bach e Schubert tocadas num fôlego onde técnica e talento se diluíam com o mesmo grau de felicidade, o que talvez seja dizer muito sobre um pianista. Estava-se em Julho, na Semana Internacional de Piano de Óbidos (SIPO) que – mistério! — tendo vida demasiado discreta e holofotes renitentes, é apesar disso invariavelmente frequentado, desde há duas décadas, por plateias de melómanos, turistas civilizados, curiosos musicais.
Muito diferente de Londres para onde só a ausência do Verão me projectaria em Julho e onde a plateia era polifónica mas a trama e a fama do “Lehman Trilogy” impuseram o breve desvio geográfico. A história dos irmãos Lehman — isto é, a extraordinária história dos alvores do capitalismo — contada com rigor, minúcia e um interesse sempre aceso, estreou-se no National Theater há duas épocas. A seguir viajou para N.Y. e no regresso foi catapultada pelo West End com o mesmo estrondoso e estridente acolhimento. Ainda mais que o óptimo texto do italiano Stefano Massini e ainda mais, se possível, que a pasmosa representação — ah, os actores ingleses… — o segredo e a chave deste “acontecimento” chama-se Sam Mendes. Foi este homem da cena e do écran que com um golpe de asa que o inspirou a ser tão vertiginoso quanto prodigioso na sua encenação, nos “deu a ver” — mas tão brilhantemente — uma história que durou 163 anos e não deixou ninguém indiferente. E levando três (só três…) actores geniais, a permanentemente se desmultiplicarem, na pele de homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, sem nunca saírem, por um minuto que fosse, de um cinematográfico cubo giratório onde, durante quase quatro horas, mora esta saga. Memorável.
3. Olhei sempre José Honorato Botelho como um patriarca não pelo porte ou a cabeça branca mas pelo que foi fazendo da sua vida que poderia dar um livro se os portugueses (se) escrevessem. Confundem-se ambos, ele os Açores, paisagem amada e mar que sempre procuro nos verṍes e este ano lá voltamos. José Honorato e o seu “Monte Simplício”, na ilha de S. Miguel também são indesligáveis: casa antiga, tapetes de hidranjas, plátanos centenários, criptomérias. Antiguidade. Alma. E uma largueza a perder de vista nesta ilha onde os Botelhos sempre tiveram pedra e terra. Biólogo de excelência, professor já jubilado com obra publicada, fazendeiro – vive há quase quarenta anos numa imensa fazenda no Estado de S. Paulo — e anfitrião generosíssimo lá e nos Açores, rendi-me há muito a este sábio das coisas da vida que tão bem conta boas histórias: as suas — onde sempre desaguam Portugal e o Brasil — e as dos outros, gente interessante com quem se cruzou ao longo dos anos. Conversar com ele torna o ambiente, as pessoas e as coisas subitamente mais amáveis. Aconteceu de novo este ano. Com a chuva deixando uma transparência aquosa na mais bela das mais belas paisagens portuguesas.
4. O Verão faltou à chamada mas – tenho de ser justa — houve algumas boas ondas no mar da “única estação”. Mas nem o Baleal, nem outros mares atlânticos da minha predileção que procurei com bom ou mau tempo estiveram, nem de longe, à altura da formidável reputação que merecem. Só a encontrei em águas açorianas (Água de Alto, Santa Bárbara…) onde as ondas se enrolavam como se jamais se viessem a desenrolar, connosco lá dentro, num borbulhar de sal e maresia. Os banheiros que o digam. São eles os meus grandes interlocutores nestes meses e não há praia onde vá onde não me entretenha em conciliábulos sobre a espantosa coreografia pela qual zelam com uma autoridade que não ouso pôr em causa: praia mar, baixa mar, ventos, ondas, marés, fundões, correntes, tudo entrelaçado num bailado que só os banheiros conhecem e eu não sei dançar como eles. Costumo obedecer-lhes e às vezes ocorre-me mesmo pedir -lhes que “fiquem de olho” nesta festa. Não sei se Ruy Belo gostava das ondas como eu. Mas sei que ele sabia porque é que o Verão era a “única estação”.
5. Em dias tingidos pela implacável meteorologia de Agosto, alguém acendia por vezes a televisão. Foi assim, na surpresa de um zapping meio preguiçoso que me cruzei com o professor João Paço, no écran. Um senhor. Conheço-o bem. Não por ser um dos melhores otorrinos do país, ou meu médico há décadas, por ter sido maratonista internacional de excelência ou benfiquista dos quatro costados. Não, conheço-o -e por isso deixo registo — pela rara “substância” de que é feito. A vida amplia-se com gente assim. Houve prémios, claro, muitas distinções e louvores (daqui a dias ser-lhe-á dada, pela Ordem dos Médicos, a mais alta condecoração atribuída a um médico, e é um dos muito poucos portugueses a ter recebido o Prémio de Honra da Academia Americana de Otorrinolaringologia) mas ele não cabe em homenagens nem elas abarcarão o que ele é e o que ele fez: o seu entendimento de “serviço”, a dimensão que lhe emprestou, a plasticidade generosa e muito inteligente com que o praticou, o uso que fez de si em nome dos outros (há anos que vai a S. Tomé e Príncipe por sua conta e risco tratar crianças).
Após 50 anos de médico e académico (professor catedrático Nova Medical School), acaba de se jubilar e a sua última “lição”, ocorrida recentemente, ficará inscrita como imagem forte do meu fraco Verão. Com altíssima qualidade científica, intelectual, humana, não leu, contou uma vida bem escolhida: o saber nunca desligado da exigência e da generosidade. A medicina foi-lhe a única vocação, “quando sabia que não podia curar, sabia que poderia sempre melhorar”. E o ensino, claro, “um médico tem de ensinar!”. João Paço procurou assim “replicar no seu pequeno hospital o que tinha visto e feito em Santa Maria” onde muito exerceu e leccionou. Replicou e bem: “com a minha força e empenho, a ajuda da Administração do Hospital da CUF e dos colegas da minha equipa criei as condições para chamar a atenção da Universidade, ter alunos e mais tarde Internato Médico e alunos de Doutoramento. Julgo sermos um caso único no país neste domínio.”
Sorriso feliz: “e em tão pouco tempo…”.
6. Nunca entre nós se quebrou o fio da amizade, podíamos vermo-nos muito ou pouco nas nossas vidas. Começou a tecer-se na Rua Duque de Palmela onde o André Gonçalves Pereira tinha o seu escritório, a mesma minúscula rua onde então se albergava o Expresso, meu local de trabalho na altura. O tempo transformou a amizade numa “entente” sentimental, tão cúmplice que acolhia ora discordância — com a mesma filosófica bonomia, por vezes cáustica ironia –, ora a concordância, mas sempre tingida por uma mesma e recíproca ternura. Durante meses e meses, quando por vezes ia almoçar com ele à sua casa da Marinha, fui insistindo com veemência para que falasse comigo diante de um gravador, vivera “pas mal de choses”. Que não. Este Verão transformou agora esse “não” num “nunca”. Mas partir no Verão é ainda mais triste, a “única estação” não é feita para despedidas como esta do André.