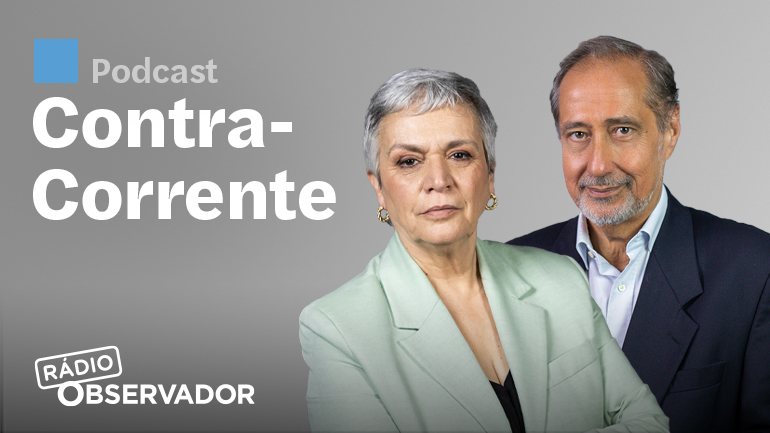Depois de 17.000 mortos-covid, dos quais cerca de metade em apenas dois meses, de 11.118 mortos, em 2020, a mais do que no ano anterior, da implosão do SNS, de muitos milhares de operações e consultas que foram adiadas para as calendas e de uma situação económica e social explosiva, António Costa, o chefe do governo que supostamente devia cuidar disto, teve a distinta lata de dizer que a pandemia comprovou “o maior falhanço das visões neoliberais”.
Não se trata, porém, apenas de um incomensurável descaramento, mas de ronha e de tática. António Costa, matreiro e manhoso, sabe que tamanha tragédia carece de um alibi para ocultar a sua impreparação para lidar com momentos de crise e a sua incompetência para governar Portugal. O “neoliberalismo”, que hoje, no discurso de uma certa esquerda, substituiu insultuosamente o antigo impropério de “fascista”, é, nas mentes contorcidas de Costa e dos seus prosélitos, o alibi perfeito, a justificação ideal, uma espécie de mordomo da Agatha Christie, que, à falta de verdugo mais plausível, arcava sempre com as culpas do cartório. No fim de contas, quantos portugueses não associam ao liberalismo e ao capitalismo os interesses financeiros mais gananciosos e obscuros, a obsessão pelo “vil metal”, o desprezo pelos pobres e necessitados, os atropelos crapulosos à lei e à ordem para saciar interesses egoístas, enfim, aquela caricatura que o Partido Comunista divulgava à saciedade, ainda num passado recente, de anafados capitalistas, com fraque, chapéu alto, gordo charuto nos lábios e cifrões nos olhos?
Mas, afinal, o que é isto do liberalismo e do capitalismo, e quando é que os tivemos por cá a destruir a economia e a vida dos portugueses?
Se olharmos para a história recente do país, veremos que, nos últimos vinte e cinco anos, o Partido Socialista esteve mais de dezassete sozinho no poder. Provavelmente não por acaso, durante esse longo período o país estagnou e deixou de crescer económica e socialmente. Será que o PS é “neoliberal”? Que governou segundo a lógica do mercado e da iniciativa privada em desfavor do Estado, ou, pelo contrário, terá feito crescer desalmadamente este último e o setor público?
De resto, em bom rigor, Portugal nunca foi um país de economia de mercado verdadeiramente aberto, livre e concorrencial. Seja, nos tempos mais próximos, com o PS, ou com quase todos os governos do PSD, o modelo virtuoso escolhido foi o de apostar no Estado como produtor e distribuidor de riqueza, no limite mínimo, como interventor indispensável para corrigir as célebres “deficiências do mercado”. Algumas décadas antes disto, um pouco mais atrás no tempo, um ilustre antecessor de António Costa proclamava também os seguintes princípios e convicções que queria imprimir à política económica e social do seu governo: «o Estado deve tomar sobre si a proteção e a direção superior da economia nacional pela defesa externa, pela paz pública, pela administração da justiça, pela criação das condições económicas e sociais da produção (…). Infelizmente do livre jogo das atividades particulares nem sempre resulta a justiça, nem a administração é sempre satisfatória perante a inferioridade económica de muitos indivíduos. Eis porque essa mesma aspiração do justo nas relações sociais nos deve levar a proteger os fracos dos possíveis abusos dos fortes e os pobres do excesso da sua pobreza.». Que governante da nossa República discordaria de palavras tão equilibradas, sensatas e humanistas, inspiradas na melhor tradição de John Maynard Keynes? Que primeiro-ministro, ou chefe, socialista ou social-democrata, de Costa a Guterres, de Cavaco a Sócrates, de Sampaio a Rio, deixaria de as subscrever? Que líder partidário da Terceira República não incluiria num discurso seu estas palavras, lidas a 16 de Março de 1933, na sede da União Nacional, pelo ainda jovem chefe do governo português António de Oliveira Salazar?
Paira sobre nós, há tempo demasiado, um estatismo que nos asfixia e entolhe. Que nos reduz aos mínimos da dignidade, sob a ilusória promessa da criação abundante de riqueza e da sua justa redistribuição. Esse paradigma não tem cor política ou partidária, nem momento histórico determinado. É uma epidemia que há muito nos condena à pobreza. A nossa modesta modernização económica e industrial foi feita, a partir de 1851, com Fontes Pereira de Melo, com investimento público e dívida do Estado. Dos mais de vinte anos em que exerceu funções governativas, onze dos quais como chefe do governo, Fontes nunca deixou de visitar periodicamente o estrangeiro de mão estendida, a pedir dinheiro para suportar as despesas públicas. O liberalismo triunfante em 1834 apropriou-se de um Estado que desenvolveu e fez crescer para regalo da nova elite devorista de viscondes e barões. No século precedente, o século XVIII, o pombalismo, que nos governou de 1750 a 77, estatizou a economia com a criação de monopólios do Estado nas pescas, na agricultura, nos vinhos, muito especialmente no do Porto, no comércio externo. Os banqueiros portugueses que sobreviveram à Primeira República, ao Estado Novo e ao PREC, foram os que se souberam encostar ao Estado e ao governo, como, até há bem pouco tempo, o colosso criado, na segunda metade do século XIX, por José Maria do Espírito Santo e Silva. As rendas dos imóveis eram fixadas por decreto dos governos da Primeira República, como o foram pelos da Segunda e da Terceira. A indústria era condicionada pelo Conselho de Ministros de António de Oliveira Salazar, tal como este nosso outro António, o Costa, controla a TAP, a RTP, os transportes urbanos, a Caixa Geral de Depósitos, entre cerca de duzentas empresas públicas do setor empresarial do Estado e de tantas outras que se movem à sua sombra.
E fiquemo-nos por aqui, para nos limitarmos ao período da nossa História Contemporânea. Se, porém, formos mais para trás, não encontraremos cenários muito distintos. Isto não é capitalismo, como admito que António Costa saiba, mas estatismo e crony capitalism, isto é, à portuguesa, capitalismo de compadres, dos amigalhaços que passam, com a leveza de miasmas fantasmagóricos, do mundo da política para o das grandes empresas e destas para o mundo da política. Porque o fazem e como o fazem? Porque, em Portugal, uma empresa só cresce, acima de um determinado nível, se tiver boas relações na política e no governo, se estiver próxima dos homens que assinam simultaneamente os cheques e as autorizações administrativas, que conseguem sacar os fundos comunitários e as adjudicações diretas.
O jogo do mercado é outra coisa. O capitalismo é outra coisa. O liberalismo nada tem que ver com isto. A economia capitalista é um modelo de produção de bens e serviços que interessam aos consumidores, isto é, a pessoas concretas e à satisfação das suas necessidades. É o melhor, mais rápido e mais justo modo de os produzir, fazendo-os chegar a milhões e milhões de pessoas a preços acessíveis, que, de outro modo, nunca lhes conseguiriam aceder. Se houver procura é porque existe uma necessidade de mercado a satisfazer. Logo surgirão empresas que lhes respondam, competindo pelos seus clientes com preço e qualidade. Quando essa necessidade estiver satisfeita, as empresas, ou o capital que acumularam, mudarão de vida e procurarão outros mercados e novos investimentos: só na cabeça de Karl Marx e na caixa forte do Tio Patinhas os capitais estão parados. E se não forem capazes de satisfazer necessidades dos consumidores, as empresas desaparecerão do mercado e os recursos financeiros mudarão de mãos. Em última instância, como Ludwig von Mises ensinava, numa economia de mercado quem manda nas empresas não são os capitalistas, mas os consumidores, os clientes. São eles que verdadeiramente dirigem a produção, e os capitalistas/empresários competem uns com os outros para que os seus produtos mereçam a sua preferência e o seu dinheiro, sem o que não sobreviverão.
No mundo do Dr. António Costa e do Doutor António de Oliveira Salazar são os políticos e os seus amigalhaços quem manda nas empresas e quem condiciona as escolhas dos consumidores. São eles quem “corrige as deficiências do mercado”, como se fosse plausível substituírem-se, com mais vantagem, às decisões de milhões de seres humanos que tomam por idiotas. Quando as coisas começam a falhar e os buracos das contas públicas a alargar, pelo natural empobrecimento geral a que esta economia inevitavelmente conduz, atiram com impostos para cima dos consumidores, e chamam a isso “redistribuição de riqueza”. O esforço fiscal dos portugueses para “redistribuir” rendimentos tem sido, nos últimos duzentos anos, sempre a crescer. Não há memória de alguma vez ter regredido. E estamos mais ricos? Não, estamos cada vez mais pobres, como se pode facilmente verificar pela simples análise comparada do crescimento económico dos países da União Europeia, em que Portugal foi ultrapassado, em menos de duas décadas, por quase todos os países do leste europeu, prevendo a Comissão Europeia que seremos, em 2031, o segundo país mais pobre da União, ficando apenas à frente da Bulgária.
O modelo estatista que de há muito seguimos conduziu-nos a isto e não conseguirá dar-nos senão ainda mais pobreza. Talvez fosse, neste momento decisivo para o futuro da economia portuguesa e de Portugal, o tempo de experimentarmos o tal modelo capitalista que nunca conhecemos, mas ao qual os culpados pela nossa desgraça atribuem as consequências dos seus próprios atos. Infelizmente, o que por aí se anda já a anunciar é que, para “pagar a crise”, são precisos mais impostos. Portugal está à beira do abismo? Então é preciso dar um passo em frente.