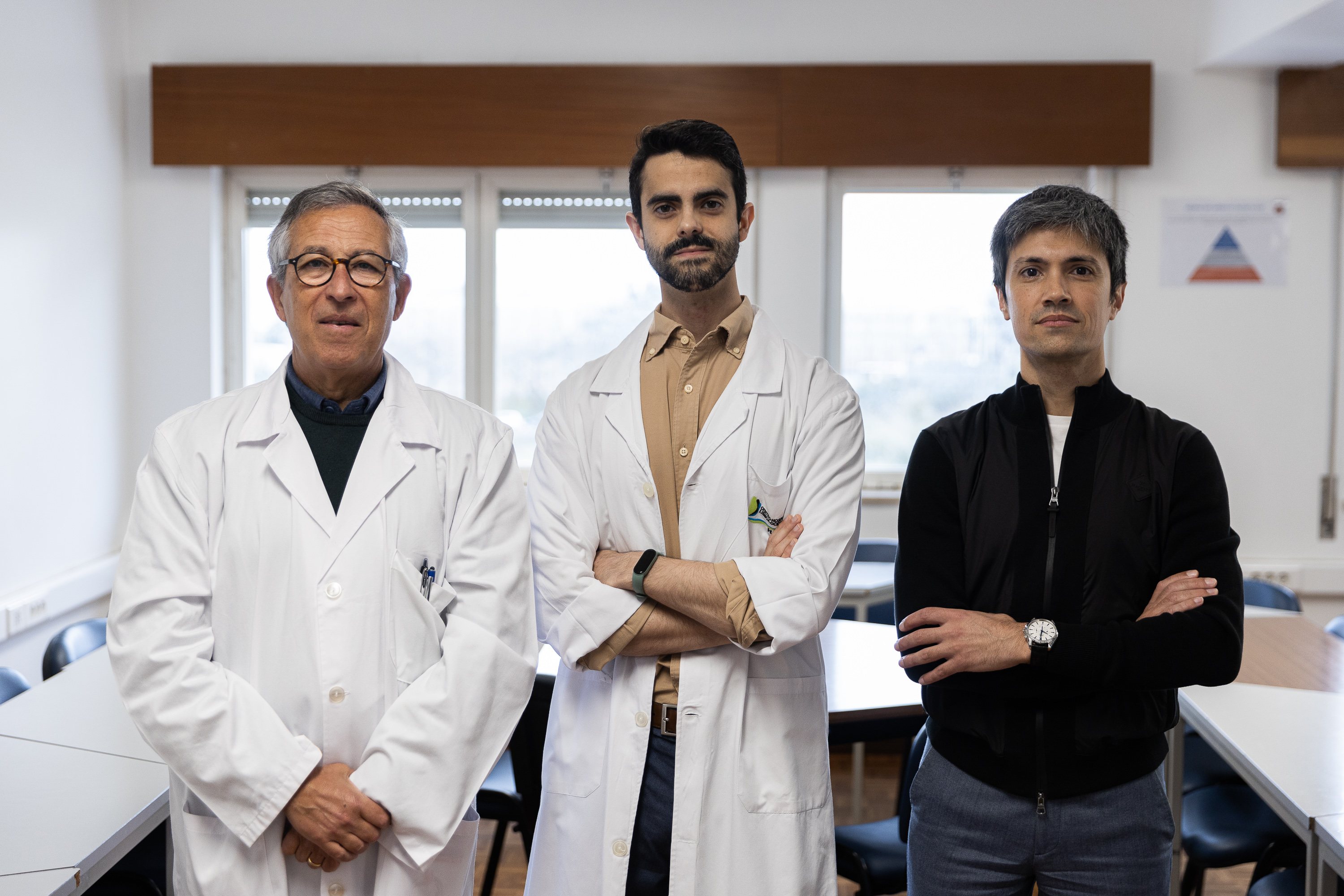Há uns dias um senhor disse-me que Deus não lhe interessava: o máximo que conseguia em relação ao seu Catolicismo de berço era apreciar Jesus por ser homem e Maria por ser mãe. Este senhor pareceu-me transtornado pela transcendência divina, talvez convicto de que se livrava de uma bagagem inútil. Como me dizia aquilo depois de saber que eu era um pastor evangélico, presumi que tinha como preferível reconhecer existência em pessoas do que em qualquer entidade menos palpável. Espanta-me sempre a opção do reconhecimento preferencial da existência em pessoas quando, pela minha parte, acontece repetidamente o contrário: quantas mais pessoas conheço, menos acredito que elas realmente existem.
Mas acho que percebi a lógica daquele senhor. Os olhos dele viam pessoas e coisas e acreditar em mais do que isso era, em grande medida, um passo em direcção ao absurdo—livremo-nos portanto de ilusões que só estorvam. Logo, dentro da tradição religiosa onde tinha nascido, o melhor que tinha para dar era elogiar o Catolicismo até esse ponto aceitável de acreditar em pessoas e em coisas atestáveis na sua observação empírica. Jesus foi homem? Isso está certo porque homem sou. Maria foi mãe dele? Isso também está certo porque uma mãezinha também tive. Agora Deus? Deus?! Desconheço esse tal de “Deus” e por isso não me metam em ciência ocultas, por favor.
Com um mundo cheio de pessoas e coisas que podemos tocar, Deus pode parecer um luxo de que apenas uma pequena minoria com excesso de imaginação poderá usufruir—é em grande parte esta a crítica daquele senhor pouco interessado nele. Deus pode tornar-se intocável no pior sentido que a palavra tem. A pessoa que acredita em Deus pratica, portanto, esse tal ímpeto de imaginação que a coloca num mundo artificial. Cabe aos outros trazerem-na para a fria realidade onde apenas o que existe realmente existe, sem truques de que nos metam a ver o que objectivamente não há para ver. Jesus foi homem e Maria foi mãe? Certíssimo e confere! Já Deus? Deixemo-nos de especulações e assumamos o Universo tal como ele nos é dado. Não fujamos do tédio dele com fantasias de fé, parece ser a crítica.
A questão é que talvez o problema não esteja no tédio do mundo, mas na linguagem que usamos para falar dele. Esta é a crítica que Northrop Frye faz no seu livro “The Great Code—The Bible and Literature” (publicado cá pelas Edições 70 como “O Código dos Códigos—A Bíblia e a Literatura”). “O que é tedioso não é o universo, mas as operações mentais que nos impõem o seu estudo. Muitas vezes, nas livrarias, damos por nós diante de estantes recheadas de livros sobre reencarnação, telepatia, astrologia, viagens astrais, objectos voadores não identificados, sonhos premonitórios, e muito mais, cujo argumento de venda que salta à vista nas capas é o abalo que eles representam para as noções científicas ortodoxas. É como se, independentemente da validade destes temas em si mesmos, o público começasse por se atrair por eles como uma pausa imaginativa, uma fuga para outros modos e possibilidades da experiência que ficaram do lado de fora das nossas prelecções linguísticas habituais”.
Se aquilo que nós falarmos funcionar fundamentalmente como um registo objectivo do que existe, a nossa perspectiva do que existe funcionará em função dessa mesma linguagem de registo objectivo. Homens e mãezinhas eu vejo, fora do que vejo nada registo porque pagam-me para registar—adverte o tal senhor. O Universo fica do tamanho das palavras que uso para o catalogar. Tornamo-nos notários da terra que nos viu nascer, que pode ser uma forma um pouco triste e burocrática de nos apropriarmos dela. Não é o mundo que se resume a pessoas e a coisas, somos nós que enxotamos o eventual abecedário que vá além delas por não se conformar à tarefa de documentação que impusemos a nós mesmos.
O caso pode mudar de figura se, em vez de sermos nós a mandar nas palavras, forem também as palavras que podem mandar em nós. Northrop Frye explicava, a partir de Vico, que a história nos dava três ciclos de uma primeira linguagem metafórica, em que as palavras criam a realidade, uma segunda linguagem metonímica, em que as palavras representam a realidade, e uma terceira descritiva, em que as palavras documentam a realidade. Se me armar em catalogador muito preciso do que vejo, naturalmente não verei nada além da precisão das palavras que me deram para trabalhar. Pessoas e coisas: eis os contornos da minha existência. Deus fica fora de prazo quando a linguagem serve para me tornar proprietário cognitivo do mundo. Mas o que será que vai acontecer se remexer um pouco na tarefa de dominar o universo a partir das certezas da minha ciência dele? Às tantas dou por mim a acreditar em Deus… Às tantas dou por mim a acreditar em realidades tais que até pessoas podem existir além do seu dever de fiscalização empírica.