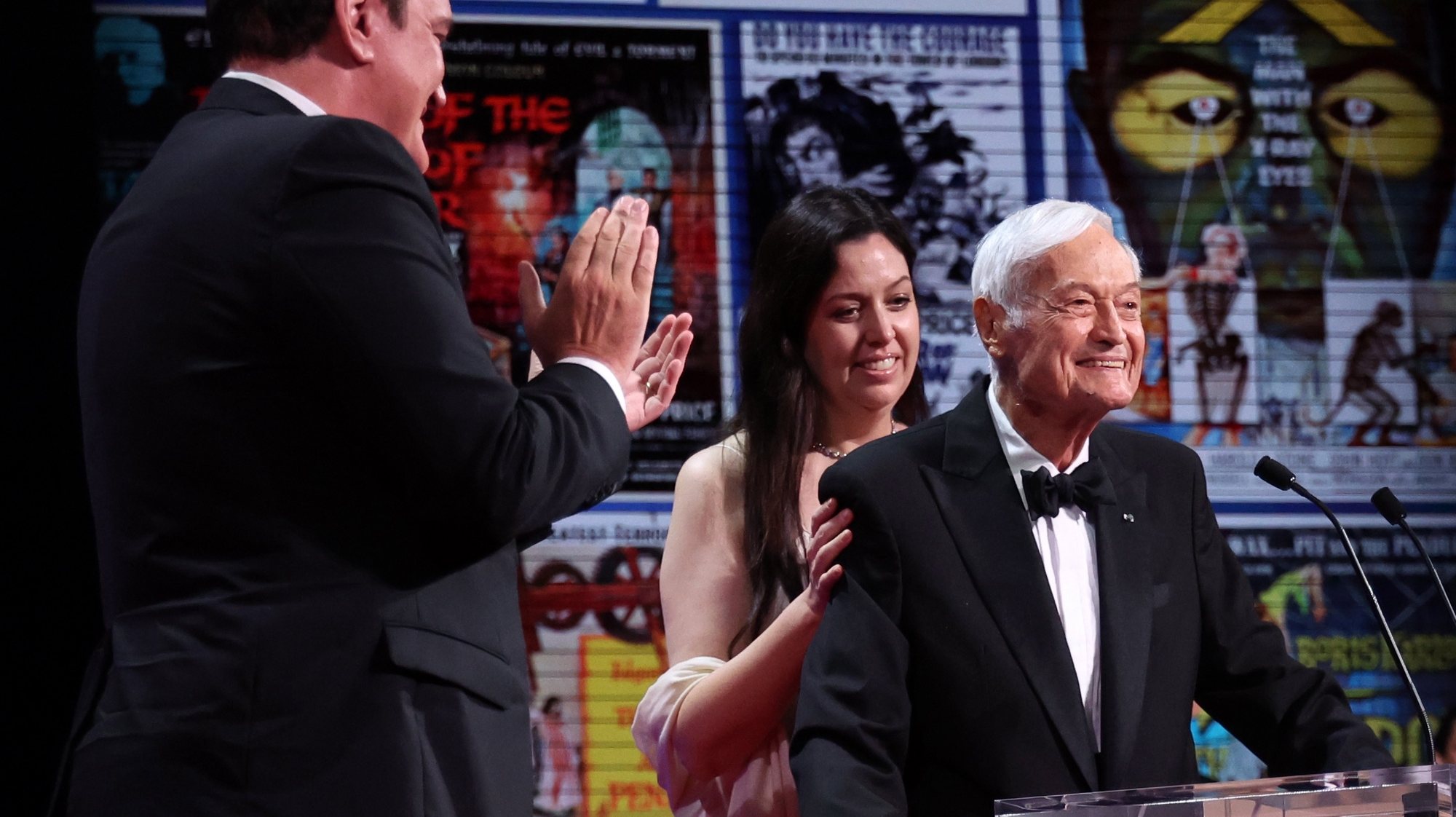Foi em meados de dezembro de 2001 que António Guterres se demitiu de primeiro ministro para evitar o “pântano político”, a seguir aos desastrosos resultados do PS nas eleições autárquicas.
Dez anos depois, em março de 2011, foi a vez de Sócrates renunciar à chefia do governo após o chumbo do Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC) no parlamento, acusando a oposição de actuar por “mero calculismo político” ao derrubar o governo.
Mais de uma década volvida e coube a António Costa “obviamente” demitir-se de primeiro ministro e precipitar a queda do governo, no meio de uma enorme trapalhada envolvendo lítio, hidrogénio, amigos “de peito”, gente de perto, ministros e ajudantes, em matéria farta de suspeitas criminais.
O “pântano político” de que fugiu Guterres aprofundou-se com Sócrates e António Costa, numa espécie de fatalidade cíclica, sempre com o PS no epicentro de cada crise.
Apesar da fraqueza de Guterres, das malfeitorias de Sócrates e das manhas de Costa, o eleitorado ainda concedeu uma segunda maioria absoluta ao PS, esquecendo que o País ficara com os socialistas às portas da bancarrota e que a austeridade ditada e fiscalizada pela troika apenas servira de travão para o iminente descalabro.
Neste longo calvário, aproveitado pelo PS e pelas esquerdas para infiltrar o aparelho de Estado – no meio da sofreguidão das negociatas e da avidez de poder como realidades tangíveis –, o País empobreceu e desceu no “ranking” europeu, a administração pública ficou caótica, o SNS entrou em colapso, as escolas públicas à deriva, a Justiça marcou passo e agravou a sua lentidão, o novo aeroporto de Lisboa soçobrou entre estudos e interesses contraditórios, a TAP esbulhou os contribuintes, os impostos atingiram níveis superlativos, e multiplicaram-se as suspeitas de favores, compadrios e os nevoeiros de corrupção, pondo em causa a credibilidade dos actores políticos e a imagem do Estado.
Numa entrevista premonitória, o actual presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henrique Araújo, declarava ao Sol, sem rodeios, que “a corrupção está instalada” e que “não é uma simples percepção, é uma certeza”.
Em resposta, desorientado, o primeiro ministro ainda em exercício – um erro de que Marcelo terá bastas razões de arrependimento – fez o que nunca deveria ter feito. Uma comunicação ao País, onde – a pretexto de investimentos polémicos, adiados pela queda do governo – lançou uma imperdoável diatribe sobre a Justiça, descartou o “melhor amigo” e o chefe de gabinete da sua confiança (e de Sócrates…) com um arrazoado patético. E nem sequer se envergonhou de lançar mão, em sua defesa, de um expediente abusivo e eticamente deplorável para um primeiro ministro demissionário.
Com esta tentativa de autovitimização e um “perdoa-me” tardio, António Costa imitou Sócrates em conflito com a Justiça e Pedro Nuno Santos – outro candidato à sucessão no PS – na sua penosa retratação pública, desdizendo o que assumira, como facto consumado, sobre a futura localização do novo aeroporto de Lisboa.
Com o fim do governo – embora diferido no tempo, a pretexto da aprovação do Orçamento de Estado –, esfuma-se também uma maioria absoluta, que Costa geriu e chamou a si como um poder absoluto, após ter sido o senhor da “geringonça”.
Graças à inexistência de Rui Rio como líder da oposição na frente social democrata, e de um CDS trôpego e sem fôlego, a segunda maioria absoluta socialista serviria – à semelhança da primeira de Sócrates –, para libertar os demónios da ganância e acentuar um sentimento de impunidade de muita gente, para quem as esquerdas no poder são sinónimo de permissividade e laxismo, com muito dinheiro a circular por debaixo das mesas… graças a bons amigos e aos “cofres” em família.
Costa foi tão infeliz e desastrado nas escolhas de ministros e de “ajudantes” – vários deles oriundos do séquito de Sócrates, com querelas obscuras não esclarecidas e contas pendentes na Justiça –, como exibe agora um desesperado desnorte, na agonia de um governo que foi um dos mais medíocres em quase meio século de democracia. É o poente de uma carreira política, sem honra nem glória. Se tiver um lugar na História, não será pelas melhores razões.
Ao anunciar eleições legislativas antecipadas, o Presidente da República optou pelo óbvio no actual estado das coisas, contra a vontade manifesta do PS, que tirou da cartola, sem o menor pudor, o nome de Mário Centeno para substituir Costa, confirmando na prática a porta giratória, bem oleada, entre o governo e o Banco de Portugal, uma instituição cuja independência deveria ser protegida a todo o custo.
Lesto, Centeno já transitara directamente, sem respeitar o menor “período de nojo”, do Ministério das Finanças para governador do BdP. E, pelos vistos, também não se importaria de “dar o salto” de governador para primeiro ministro.
É outro caso de flagrante desprezo pela mais elementar ética política, agravado pela precipitada entrevista ao Financial Times, na qual declarou, preto no branco, que “recebi um convite do Presidente e do primeiro-ministro para reflectir e considerar a possibilidade de liderar o governo”, algo prontamente desmentido por Marcelo.
Neste sortido de desmentidos e de contradições, a “cereja em cima do bolo” pertenceria ainda a Centeno ao “dar o dito por não dito” em comunicado posterior ao desmentido de Belém, no qual passou a ler-se que “é inequívoco que o Senhor Presidente da República não me convidou para chefiar o Governo”.
Perante este exercício impúdico – ou esta mentira tosca ao FT –, sobram razões ao PSD para defender que Centeno perdeu legitimidade como governador, ao ultrapassar as “linhas vermelhas da independência” que são exigíveis ao Banco Central. E não se demite?…
Apesar de ser reconhecido como um arguto artífice na montagem de cenários políticos, suspeita-se que Marcelo talvez não contasse com esta súbita girândola de sinais perturbadores para o regime, que esteve à beira da “mexicanização”, e no quadro de uma dissolução que quis servir a frio, depois do “empate técnico” no Conselho de Estado… mas que segue dentro de momentos, com o “bónus” da demissão de João Galamba, que exigira de Costa sem a conseguir.
Abre-se agora um novo capítulo para Luís Montenegro, ao sair-lhe em sorte uma crise política que fará dele candidato a primeiro ministro mais cedo do que esperava. Resta saber se vai merecer esse destino providencial.
Em contrapartida, teremos no largo do Rato um PS confrontado com a herança de Costa, que vai deixar sulcos profundos, enquanto os candidatos já declarados medem forças e congregam apoios internos.
José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos em comum têm apenas o facto de conhecerem por dentro a máquina do partido, o que não é de somenos. Em tudo o mais, estão nos antípodas um do outro.
Carneiro, discreto e perfeccionista, é um moderado, com larga experiência acumulada como autarca e governante, corajoso e determinado ao antecipar a sua candidatura.
Já Pedro Nuno, uma “alma bloquista” plantada no PS, que um dia sonhou, enquanto vice-presidente da bancada socialista, pôr as pernas dos banqueiros alemães a tremer, “se nós não pagarmos a dívida”, ainda confessou então, com fina elegância, que “estou-me marimbando para os nossos credores”.
Como se nota por este obtuso pensamento doutrinário, o candidato que representa a ala mais esquerdista do partido, amparado na esperança de uma nova “geringonça”, tem o perfil mais adequado para chegar a primeiro ministro…
É da mesma fibra de Pedro Sánchez, que, após (des)governar Espanha com a extrema esquerda do Podemos, se prepara para “saltar o muro” (imitando António Costa, quando perdeu as eleições para Passos Coelho), capaz, até, de celebrar pactos com Carles Puigdemont, o independentista foragido em Bruxelas, se isso lhe assegurar a continuidade no poder, mesmo arriscando fragmentar o país vizinho. E ainda teve o topete de prometer ajuda ao PS para ganhar as eleições em março!…
Talvez Portugal esteja, finalmente, cansado de “circo” e queira ser governado com maior estabilidade e confiabilidade. Sem homens providenciais, mas com gente de “alma lavada” e folha limpa.
Nota: Ao iniciar uma colaboração regular no Observador, adiro com gosto a um projecto jornalístico independente, arrojado e inovador, que acompanho desde o seu lançamento e cujos fundadores souberam traçar uma linha de fronteira clara, sem cedências a modas de ocasião ou a favores políticos.
São boas razões para, doravante, associar-me ao projecto, cujo denominador comum é o livre pensamento, sem obediências a capelas ou a grupos de interesses. Por aqui estarei, às Terças.