“Dentro de vinte, trinta anos, a região, que é pobre, com o trabalho do pinhal, derrubadas, serrações, gemagem, transportes e alimpas, terá aqui uma fonte apreciável de receitas e a ocupação certa de muitos braços”.
Assim falava, nos finais dos anos 1940, lá no esconso de uma serrania do interior, o “senhor engenheiro Lisuarte Streit da Fonseca”. Homem dos Serviços Florestais, era o representante do longínquo poder central que Aquilino Ribeiro pôs a explicar aos homens das aldeias a boa fortuna que os pinheiros trariam às suas terras e vidas. A cena é de Quando os Lobos Uivam, o livro proscrito do grande prosador que por estes dias me lembrei de ir buscar à estante e abrir quase ao acaso – mas não por acaso: quis recordar como nesse romance se descreve a tomada dos baldios pelo Estado, a sua florestação obrigatória e as muitas revoltas que isso causou no Portugal que ainda era de Salazar. E quis fazê-lo porque sinto que há, na forma como Lisboa está de novo a tratar os que vivem nas serranias do interior, paralelos que fazem pensar – e desesperar. Basta retomar a leitura:
“Temem elas [as aldeias], antes de mais nada, que à força de regulamentos, posturas, acabem por ficar desapossadas do que hoje é absolutamente seu. Há tiranete mais despótico nestes tempos que um guarda, um regedor, o simples polícia do jardim?!”, retorquia no romance o Dr. Rigoberto, “reviralhista notório”.
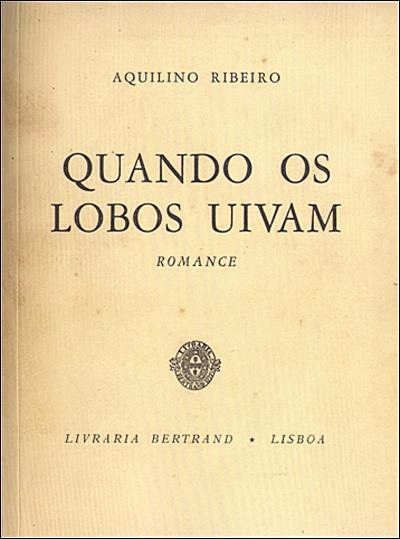
Não pude deixar de sorrir tristemente ao ler estas passagens relativas a um país que diríamos ter ficado perdido no passado, tantas as décadas que passaram sobre Quando os Lobos Uivam (o romance é de 1958, foi publicado há precisamente 60 anos). Como não pude deixar de contrastar a promessa arrogante de um progresso e de uma riqueza que nunca chegou – as aldeias de Aquilino, se existissem, estariam hoje tão vazias e abandonadas como as de todas as serranias do nosso interior que foram ocupadas pelos pinheiros e, depois, pelos eucaliptos. Também não pude deixar de notar o mesmo receio dos regulamentos e posturas, um receio que hoje alastra por esse mesmo país esquecido graças à diligência da Autoridade Tributária, dos seus emails e das suas ameaças de coimas colossais. Tal como por fim não pude evitar o paralelo entre a velha presença do tiranete local e a presença moderna de uma GNR que promete ir já para o terreno à procura de quem não tiver cumprido o prazo arbitrário de 15 de Março para ter limpas as suas matas.
É como se a história estivesse sempre a repetir-se, umas vezes sob a forma de um Estado autoritário apostado em tomar conta dos baldios para os florestar e “enriquecer” o interior, outras sob o manto de uma “autoridade democrática” apostada em salvar num ano o país de todos os fogos, em aplicar em poucos meses uma lei velha de 12 anos que verdadeiramente ninguém conseguira fazer cumprir.
O que nem surpreende, sobretudo se pensarmos que no tempo de Aquilino as nossas elites nem estavam tão distantes do mundo rural como estão hoje, pois hoje o que temos são mesmo elites sem a menor noção do que é a gestão do mundo rural. Se fizessem a mais pálida ideia do que é esse mundo não insistiam, como têm insistido, na centralidade quase exclusiva, para a prevenção dos fogos florestais, de uma lei absurda e inadequada aprovada nos idos de 2006 e nunca aplicada.
Outras elites talvez tivessem começado por se interrogar porque é que essa lei nunca foi posta em prática – as elites que temos culpam o desleixo do povo e ou aplaudem acriticamente a duplicação das multas e as ameaças da Autoridade Tributária, ou reconhecem que a lei é má mas alguma coisa tem de ser feita para que não se repitam as tragédias de 2017.
É verdade, alguma coisa tem de ser feita e alguma até está a ser bem feita, pelo menos do que se conhece do trabalho da Estrutura de Missão encarregue de criar uma nova estrutura de prevenção e combate dos fogos rurais. Mas fazer o que deve ser feito não passa por actuar como se a floresta em Portugal fosse do Estado, pois esta é 98% privada. Ora, como já assinalou quem é especialista e está no terreno, é exactamente isso que “acontece quando se produz legislação que dá ordens para serem cumpridas pelos produtores florestais privados, supostamente em nome do interesse público, sem se cuidar de os compensar pelos custos que têm que suportar para cumprirem essas ordens e sancionando-os se não cumprirem”. Ou seja, o Estado, na sua atitude para com as populações, as aldeias, os proprietários, não mudou assim tanto quando pensamos, ainda é muito o Estado que Aquilino retratava em Quando os Lobos Uivam: está longe, é autoritário (sempre em nome do “interesse público”) e, quando não é obedecido, faz avançar “a guarda”.
Sem pretender ser exaustivo nem me substituir aos especialistas, e sem revisitar todos os detalhes (para isso há este bom Explicador no Observador), convém perceber os muitos absurdos da lei de limpeza das matas que agora se quer impor a bem ou a mal:
- É uma lei sem sentido das proporções. 50 metros em redor de casas isoladas e 100 metros em redor das aldeias é um exagero que não parece trazer qualquer vantagem. Não é essa referência das boas práticas internacionais. Não é esse o conselho de quem estudou os grandes incêndios de 2017. Mas é uma imposição que faz aumentar exponencialmente as áreas a limpar (a norma dos 50 metros implica ter de limpar uma área seis vezes maior do que se o limite fosse 20 metros, o adoptado em muitos países com problemas semelhantes) e, naturalmente, multiplica os custos associados.
- É uma lei que não tem em consideração a diversidade do território. O que se sabe da forma atabalhoada, apressada, aterrorizada, com que a chamada limpeza das matas tem vindo a ser realizada, em muitos locais a eito e sem conhecimento das espécies que se está a abater ou a “limpar”, tudo indica que foram cometidas muitas “atrocidades”. Atrocidades desnecessárias se em vez de uma norma cega, igual para todo o território, se tivesse actuado de forma mais adequada às diferenças e especificidades só detectáveis por quem está no terreno.
- É uma lei que violenta os direitos dos proprietários e deresponsabiliza o Estado. No Canadá, que não é propriamente um país atrasado e onde a floresta tem muito mais importância do que em Portugal, os proprietários têm de assegurar a limpeza de uma faixa de dez metros em redor das suas habitações, daí para diante é considerado que faixas de protecção maiores só se houver um superior interesse colectivo, pelo que tratando-se de um serviço à comunidade a responsabilidade passa para o Estado. Em Portugal é ao contrário: o mesmo Estado que autorizou o meu vizinho a construir a sua casa colada à minha propriedade obriga-me a mim a abater as árvores que estiverem na tal faixa de protecção. Não tenho rendimento nem usufruto, só tenho custo. Não faz sentido, mas o legislador fica de consciência tranquila.
- É uma lei sem sustentabilidade económica. O pavor da multa está a levar muitos proprietários a fazerem das tripas coração e a tratarem de abater, desramar e desmatar tudo o que virem à sua frente, com custos que naturalmente dispararam em flecha pois a procura de serviços é muita e a oferta curta. A limpeza de um só ano pode custar o suficiente para desbaratar todo o eventual rendimento da exploração florestal, mas sucede que a floresta é um organismo vivo e, por isso, para o ano, e para o ano seguinte, e outra vez no ano que vem que a seguir, é necessário voltar a fazer o mesmo. No interior empobrecido é a condenação à ruína ou à expropriação. Pior: é um convite ao abandono puro e simples.
- É uma lei que pode criar ainda mais condições para os incêndios progredirem. A lei impõe a desmatagem até 15 de Março, mas a verdade é que é depois de Março e até ao Verão que, sobretudo se tivermos chuvas tardias (como estamos a ter), mais mato cresce. Podemos chegar à “época dos incêndios” com os terrenos de novo cheios de materiais combustíveis. Pior: ao impor um grande espaçamento entre as copas das árvores, a lei vai permitir que chegue mais luz ao solo, e mais irradiação solar permite que mais matos cresçam entre as árvores.
- É uma lei inaplicável nos prazos estipulados. Este é o ponto que já ninguém discute: não se faz em dois meses o que não se fez em 12 anos. Mesmo que a lei fosse perfeita, não há meios, nem homens, nem máquinas, nem tempo para a aplicar. É o que as câmaras têm vindo a dizer, e a repetir, e a insistir, perante o autismo arrogante do primeiro-ministro e do ministro da Agricultura. É muito bonito falar de descentralização com Rui Rio às segundas, quartas e sextas e, às terças, quintas e sábados, mais aos domingos, agir com o velho centralismo napoleónico de quem julga que manda no país a partir do Terreiro do Paço e se recusa a ouvir os que, mesmo não sabendo tudo, sabem mais porque estão mais perto, como é o caso dos autarcas.
A lista das críticas e queixas não se fica por aqui e muito mais poderia eu escrever, até por conhecimento concreto do que se passa na zona rural onde vivo, numa das freguesias classificadas como sendo de “prioridade 1”. Mas fico-me por aqui pois olho para o que está para vir, ou pode estar para vir, e sinto num cenário medo, noutro indignação.
Sinto medo do que pode acontecer a partir de dia 15 quando a GNR for para o terreno. A guarda ou olha para o lado, ou começa a levantar autos a eito – aliás tem mesmo de fazê-lo pois sem esses autos as autarquias não poderão realizar as prometidas limpezas coercivas. E como a lei não se pode aplicar pela metade, ninguém entende o que querem António Costa ou Capoulas Santos dizer quando referem que o seu objectivo não é a caça à multa. Se não é, porque foi que colocaram a ameaça da multa no centro da comunicação aos cidadãos? Mais: porque é que utilizaram a mais poderosa (e aterradora) máquina pública de cobrar dinheiro aos cidadãos, a da Administração Fiscal? O que vai suceder quando as multas começarem a cair e se criar a inevitável sensação de injustiça? O que vai suceder se as multas só caírem aqui ou acolá e se criar a percepção de que houve filhos e enteados? Os tempos já não são os de Quando os Lobos Uivam, menos ainda os da Maria da Fonte, e não haverá por certo hordas de idosos de enxada ao ombro a descerem das serranias em direcção às cidades ou aos postos da guarda – mas os tempos são de incendiários furtivos e o desespero é sempre mau conselheiro. Sobretudo o desespero de quem há décadas se sente abandonado pelo Estado, que se sente inseguro nas suas aldeias quase vazias, e que agora vê chegar os guardas que noutras alturas estão ausentes, guardas que chegam não para ajudar mas para multar.
Por fim sinto indignação. Por mais argumentos que escute, por mais diatribes que oiça, não consigo encontrar um racional para a irracionalidade desta campanha a não ser o racional que não devia existir: o cálculo político. Dizendo a coisa de forma frontal e franca: todo este alarido tem menos a ver com a protecção da floresta contra os incêndios e muito mais a ver com a protecção de António Costa contra os imprevistos de um Verão que corra menos bem, pois nem é preciso que corra tão mal como o último para ele pagar um elevado preço político. Mas agora já não corre esse risco, porque depois desta campanha vai sempre poder dizer: fiz tudo o que estava ao meu alcance, se as coisas estão a correr mal é porque os malvados dos proprietários não limparam as suas matas.
É assim que actua um politiqueiro habilidoso e calculista, não é assim que actua um estadista. A reforma da floresta e do sistema de protecção contra incêndios é um trabalho de várias legislaturas, talvez de uma geração, pois vai mexer com as paisagens e os tipos de ocupação humana em metade do nosso território. É um trabalho que implica determinação, paciência e ser franco quando se fala a uma opinião pública que, por viver sobretudo nas cidades, ignora quase tudo do mundo rural.
Não foi este o caminho escolhido por Costa neste início de 2018 – foi mesmo o oposto: foi virar a opinião pública das cidades contra o mundo rural, foi preparar-se para culpabilizar o mundo rural. Espero sinceramente que o ano corra bem e ele não tenha essa oportunidade.
Siga-me no Facebook, Twitter (@JMF1957) e Instagram (jmf1957).















