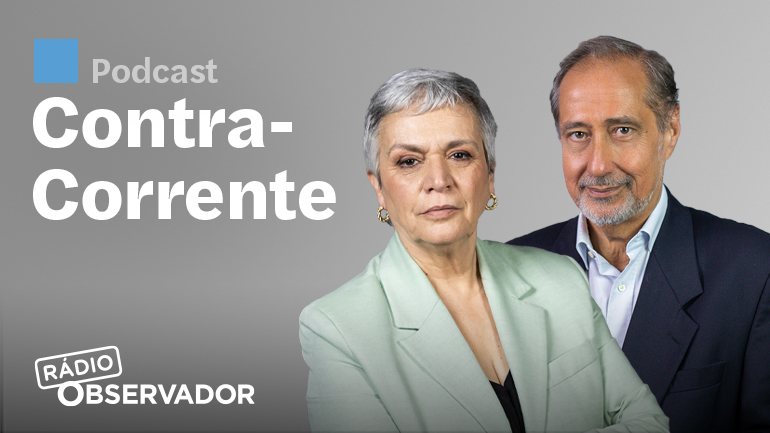Primeiro, conversou com Carlos Moedas. Depois, deixou de conversar. Primeiro, teve um candidato próprio. Depois, deixou de ter. É a história da Iniciativa Liberal em Lisboa. Nada tem de surpreendente. Estamos perante o que se poderia esperar de um pequeno partido a tentar descobrir, numa espécie de crise de adolescência política, quem é e o que lhe convém. Percebe-se a tentação da candidatura: fazer prova de vida, contar votos, etc. Nas eleições presidenciais, não tinha importância concorrer contra o Presidente da República, porque de facto ninguém ameaçava a sua reeleição. Mas nas eleições autárquicas, e muito especialmente em Lisboa, um candidato da IL pode fazer a pequena diferença de que a vereação socialista precisa para prolongar os seus 14 anos de senhorio da cidade. A IL acha que vale a pena correr esse risco. Mas aqueles que em Lisboa e em Portugal acreditam que é urgente uma mudança de governo, o que devem achar?
Não quero ser desnecessariamente crítico da IL ou do Chega, que também, como não podia deixar de ser, anda à procura de um candidato em Lisboa. O grande problema destes novos pequenos partidos é que nasceram mesmo muito pequenos. De tanto falar deles e das suas sondagens, esquecemo-nos por vezes que a IL e o Chega têm apenas um deputado cada um na Assembleia da República. Não se sabe ao certo quantos militantes têm, e qual a densidade da sua organização. O Chega dá uma ideia das prováveis dificuldades a esse respeito: diz ter cerca de 28 mil militantes, mas só um pouco mais de metade, cerca de 15 mil, têm as quotas em dia, e apenas 3 317 – menos de 12% — se incomodaram para votar na eleição do líder esta semana.
Fundar e implantar um partido não é coisa fácil. Os partidos mais antigos contaram, em 1974, com os entusiasmos e os medos da revolução para arranjarem militantes e financiamentos (nomeadamente externos). No caso do PCP, PS, PSD e extrema-esquerda, valeram-se ainda das liberalidades do MFA, que por eles distribuiu as antigas instalações da Legião e da Mocidade Portuguesa. Quando a revolução acabou, continuaram a explorar o Estado, sobretudo câmaras municipais e juntas de freguesia, para manterem as suas organizações. Os pequenos partidos, formados agora, não têm nada disso, nem obviamente os quarenta anos de história que definiram rumos e consolidaram solidariedades. Num determinado momento, não lhes faltará anónimos à procura de protagonismo, nem eleitores dispostos a registar o seu descontentamento. Mas nada é seguro. Os activistas nem sempre têm disciplina ou coerência, como se viu no caso do candidato lisboeta da IL, ou na II convenção do Chega, em Setembro de 2020, quando uma parte dos congressistas se foi embora. O eleitorado consegue ser ainda mais volátil, como poderá contar o agora já esquecido Marinho Pinto: nas europeias de 2014, enquanto cabeça de lista do MPT, recebeu 234 603 votos e elegeu dois eurodeputados; apenas um ano depois, à frente do PDR, nas legislativas, ficou-se pelos 61 632 votos e não elegeu ninguém. A janela de oportunidade fechou-se tão depressa como se abrira. Em 2019, o PDR teve 11 674 votos. Como não compreender o nervosismo dos promotores de novos partidos?
Por alguma razão, em Portugal, os partidos parlamentares são fundamentalmente os mesmos desde 1975, incluindo o BE, fusão da LCI e da UDP. Tudo o que, desde então, apareceu, não durou, a começar pelo PRD do general Eanes em 1985. Daí que um pequeno partido seja um bebé difícil. Precisa de toda a atenção. Precisa que se fale dele, custe o que custar, e custe a quem custar. Precisa de um ambiente artificial de grande expectativa e de intensa exposição mediática. Está, por isso, sujeito a todas as tentações e precipitações. André Ventura ameaça, semana sim, semana não, derrubar o governo dos Açores. A IL avançou com um candidato próprio em Lisboa por, segundo consta, Rui Rio não lhe ter telefonado. Nesta busca exasperada de importância, tudo se deve esperar dos pequenos partidos, incluindo as mais espectaculares reviravoltas. O Ciudadanos em Espanha é um exemplo. Estreou-se como um partido da nova direita, anti-PSOE. Em 2019, porém, perdeu 80% do seu grupo parlamentar. Agora, tenta, em desespero, sobreviver como uma muleta do PSOE. Os pequenos partidos estão condenados ao psicodrama. Resta saber se uma alternativa política em Portugal, neste momento, se pode dar ao luxo de depender dos psicodramas dos pequenos partidos.
Não pretendo, repito, diminuir a IL ou o Chega. É provavelmente bom que haja um partido que afronta sem medo o politicamente correcto, como o Chega. É também bom haver um partido com candidatos que, pelo menos em certos dias, advogam a privatização da TAP, como a IL. Não nego que isso seja útil para a democracia em Portugal. Mas nem esses papéis meritórios o Chega e a IL conseguem desempenhar sem o frenesim e a instabilidade característicos dos pequenos partidos. Para chamar as atenções, ao Chega não basta resistir ao politicamente correcto, tem de o fazer de uma maneira rude e facciosa, como se fosse necessário corresponder às piores caricaturas do partido. Para agradar a todos, a IL não se permite ser consistente em nada, não é de esquerda nem de direita, privatiza num dia o que nacionaliza no outro, como se a palavra “liberalismo”, afinal, não descrevesse mais do que uma relutância em fazer escolhas políticas. Mas vamos admitir que mesmo assim contribuem para o alargamento do que é possível dizer no debate público. Compensará esse contributo as suas carências de afecto, as suas necessidades de afirmação, as suas crises de crescimento?
Esta semana, o professor Cavaco Silva disse que o país está “amordaçado”. Não disse nada que não correspondesse à observação de Ana Gomes de que já temos um Orbán em Portugal. Mas das esquerdas derramaram-se logo as previsíveis vagas de ódio contra o homem que mais vezes as derrotou em Portugal; e à direita, apareceram, também sem surpresa, umas quantas boas almas a brandir uma errata: onde estava “amordaçado” devia ler-se “estatizado”. Santa ingenuidade de faculdade de economia, que explica o liberalismo de via estreita a que temos direito. Não, a estatização não importa apenas pelo seu impacto na eficiência da economia, mas pelo poder que dá à facção no governo para controlar e constranger a sociedade – para a “amordaçar”, exactamente. Porque não se “amordaça” um país só com censura prévia. Amordaça-se, também, com o controle de instituições independentes que deviam limitar o exercício do poder, como o Tribunal de Contas, a Procuradoria Geral da República, ou o Banco de Portugal, ou aproveitando a debilidade da imprensa para a tornar dependente do Estado, e assim mais atreita à homogeneidade de ponto de vista que convém ao poder.
É por isso que a gestão pelo actual governo socialista das ajudas europeias nos deve preocupar. O país vai continuar a divergir da Europa. Estará relativamente mais pobre no fim desta época de despesa pública, e sempre condicionado pela dependência financeira externa. Mas para este governo, a prioridade, como explicou António Costa, é derrotar o “neo-liberalismo” e, como deseja Pedro Nuno Santos, aumentar o Estado em Portugal. Os confinamentos decretados para salvar o SNS enfraqueceram a sociedade civil, e tornaram mais difícil, para muitas famílias, o ideal de uma vida independente. As esquerdas portuguesas, unidas por detrás deste governo, pretendem aproveitar essa devastação para agravar a dependência em relação ao Estado, ao mesmo tempo que subscrevem a agenda da guerra cultural importada dos EUA. As duas coisas articulam-se entre si perfeitamente. A agenda de guerra cultural americana visa apagar a memória do que é comum, a começar pela história nacional, e segmentar a sociedade em grupos de reclamação, todos dependentes do poder político – a típica receita imperialista de dividir para reinar. Estamos num mundo em que, segundo a Freedom House, 75% das pessoas vivem em países onde as liberdades regrediram, numa tendência consistente desde 2006. A mordaça de que falava Cavaco Silva não é um exagero, faz parte do ar do tempo, e torna mais urgente uma alternativa política que vise consolidar a liberdade dos cidadãos reforçando a autonomia da sociedade civil perante o poder do Estado.
Para quem vê a urgência de uma alternativa, a questão dos pequenos partidos é muito séria. Não basta a resposta: no fim, juntam-se todos e fazem uma “geringonça”. A corrente geringonça da esquerda foi negociada, em 2015, entre três partidos sem as aspirações de se distinguir e de crescer que actualmente atormentam o Chega e a IL, ambos intoxicados pelas promessas desta ou daquela sondagem. Imaginem a instabilidade que o Chega inflige ao governo dos Açores transposta para um governo nacional. Um governo que terá de enfrentar a fúria das esquerdas, que nunca se conformarão com a perda de poder, poderá permitir-se esses dramas domésticos? De qualquer modo, no caso da Câmara Municipal de Lisboa, não há geringonças. Quem ficar à frente, governa. É por isso que em Lisboa só haverá um voto que garanta a mudança. É o voto na lista encabeçada por Carlos Moedas. Todos os outros votos, sem excepção, são votos na continuação do domínio socialista — votos pela estatização da economia, pelo enfraquecimento da sociedade civil, pelo cancelamento da cultura nacional, pelo empobrecimento e pela diminuição da liberdade.