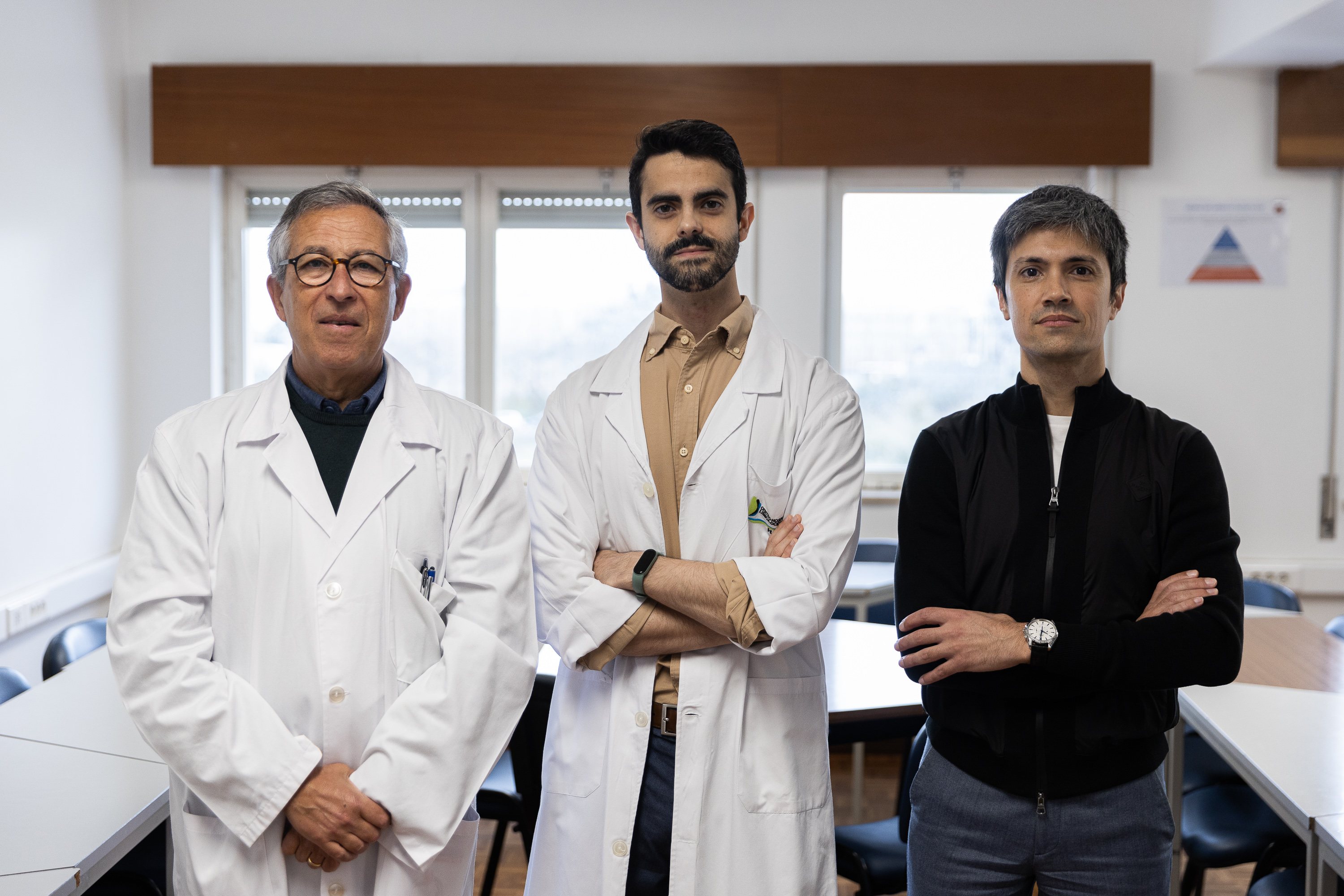Nunca acabamos de aprender com este governo e a sua maioria. Já se percebeu que o seu principal problema era compatibilizar os défices que Bruxelas exigia e os ganhos com que convinha bafejar os eleitores dependentes do Estado. O crescimento económico ajudou um pouco, mas não dispensou violências fiscais e sobretudo cortes de investimento e de despesas que, como se vai vendo, fizeram tremer os serviços públicos, nomeadamente na saúde. Nunca os malvados “neo-liberais”, há décadas a tentar supostamente destruir o Estado social, foram tão longe. Para piorar tudo, a generosidade com os funcionários não os impressionou, ao ponto de dispensarem greves e protestos que a maioria não hesitou em declarar “selvagens”. Ora bem, como é que, nesta situação, se salva a honra das esquerdas unidas? É muito simples: inventa-se uma lei de bases da saúde e faz-se questão de recusar os votos da direita, para que fique claro que só socialistas e comunistas defendem o Serviço Nacional de Saúde que eles próprios estão a levar à beira do proverbial precipício.
Esta guerra de Solnado do SNS não é nova. Há quarenta anos, também foi assim, em circunstâncias um pouco diferentes. Então, o PS, no governo com o CDS, negociava o primeiro pacote de austeridade com o FMI. Todos os dias havia arautos do “progressismo” a enrouquecer em público com tamanho escândalo. Era preciso um retoque de esquerda. Veio assim a lei do SNS, redigida com os pós de sectarismo necessários para que o PS só tivesse a companhia do PCP e da UDP na sua votação. Era um papel, porque na prática a saúde pública, em tempo de austeridade socialista, continuou a assentar na oferta já existente, a começar pela rede de centros de saúde criada em 1971 por Baltazar Rebelo de Sousa, talvez o verdadeiro fundador do SNS em Portugal, como — sem exagero – sugere o presidente da república na biografia do pai. Mas eis o PS parcialmente redimido do pecado de governar com os “fascistas” a favor do “capitalismo”. O preço do novo ajustamento de 1983-1985, dessa vez na companhia do PSD, seria a primeira lei do aborto.
Não estou a dizer que o projecto da “socialização da medicina”, como se dizia antigamente, não faça ideologicamente sentido: para quem deseja pôr o Estado a controlar miudamente a sociedade, é importante que a saúde, a educação, a banca, os transportes e por aí foram não sejam “negócio”, isto é, campo de actividade empresarial. E para os cidadãos que queiram apenas ser examinados e tratados? Há hoje um sólido consenso de que numa sociedade civilizada há dois tipos de igualdade imprescindíveis: perante a lei, e perante os cuidados médicos. Tal como ninguém deve deixar de ser punido por ser rico, também ninguém deve deixar de ser tratado por ser pobre. Percebe-se assim, a garantia pública de cuidados de saúde. Mas para tornar efectiva essa garantia, há muitas opções. Desde os anos 80, quando se percebeu que o Estado nunca teria meios para pagar tudo, que se tentam criar mercados da saúde, com a esperança de baixar custos e melhorar serviços. Para a maioria das pessoas, a prioridade é obviamente ser examinada e tratada o mais rápida e eficazmente possível. O prestador do serviço ser estatal, privado ou uma parceria público-privada não é a primeira consideração do utente. Por indiscrição das redes sociais, amplificada pela imprensa, sabemos que até deputados do PCP — e com todo o direito — optam por hospitais privados. Da mesma maneira, para quem se comprometeu a garantir que toda a população terá acesso a cuidados de saúde de qualidade, a preocupação principal deveria ser como tornar efectivos e viáveis esses cuidados, independentemente de quem os prestar. Ninguém trata a gripe com ideologia. E no entanto, é a ideologia que querem pôr a atender-nos nos hospitais.