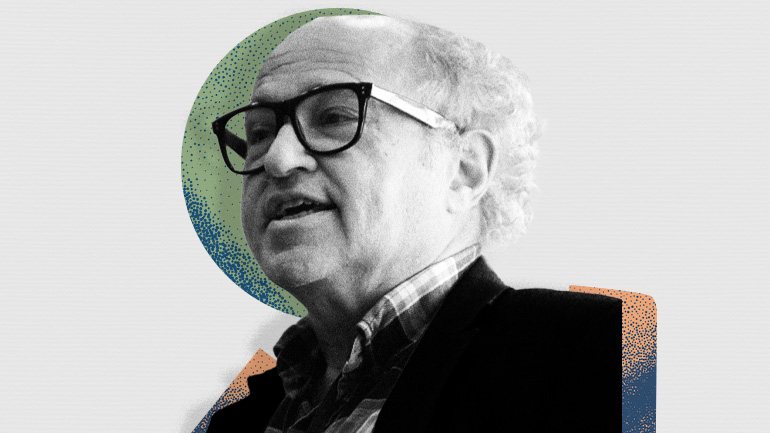Para quando a resposta é óbvia, há em inglês um dito, sob a forma de uma pergunta retórica: “o Papa é católico?” Na política portuguesa, porém, o Papa nem sempre é católico. Lembrámo-nos disso, mais uma vez, com a entrevista do cabeça de lista do PSD às eleições europeias: Paulo Rangel diz que nunca disse que era de direita, e, sobre questões fundamentais, pensa o mesmo que a esquerda.
Não vou entrar aqui em escolásticas sobre direita e esquerda. Direita e esquerda não são coisas: é apenas a dicotomia com que tem sido pensada a política nas democracias pluralistas do Ocidente, a partir da maneira como os partidos se dispõem nas assembleias representativas. Por isso, em todos os regimes se pode falar de uma direita e de uma esquerda. Na actual democracia, desde 1975 que o CDS e o PSD se sentam à direita em São Bento, e têm defendido e proposto o que as direitas defendem e propõem nas democracias ocidentais. São, para todos os efeitos, a direita desta democracia. Que sentido faz negar esta evidência?
É verdade que podemos brincar com as palavras. Se me disserem que a direita é o fascismo (ou que a esquerda é o comunismo), eu também não sou de direita (nem de esquerda). Mas repito: a direita e a esquerda de que estamos a falar são as desta democracia. Houve dois momentos, porém, em que à direita portuguesa não conveio dizer o seu nome. O primeiro, em 1975, quando isso equivalia a chamar o COPCON. O segundo, em 1976, quando as direitas se convenceram de que só chegariam ao poder à boleia do PS, e que, por isso, não seria prudente vincar identidades que incomodassem a consciência de esquerda dos socialistas. A chave da entrevista de Rangel é que a direcção do PSD se persuadiu de que estamos outra vez em 1976. É uma estratégia, dir-me-ão. Sem dúvida, e terá as suas razões de ser. Mas cria dois problemas graves.
O primeiro deriva do facto de a democracia ter amadurecido. Há quem, pelos vistos, queira imitar manhas de 1976. Mas não estamos em 1976. A entrevista de Paulo Rangel foi, por isso, naturalmente estranhada. Na política de hoje, assumir claramente a respectiva posição é uma questão de transparência. O que Rui Rio e o seu candidato não parecem perceber é que este tipo de declarações têm o efeito daquelas pequenas mentiras que, embora sem gravidade, nos fazem desconfiar um pouco das pessoas a quem as ouvimos.
O segundo problema é sugerido pela apresentação que o BCP fez em Londres a investidores estrangeiros. Para quem olha de fora, o PCP e o BE, com os seus caprichos venezuelanos, são o primeiro susto. Ora, o PSD está a tratar os portugueses como se os portugueses fossem investidores estrangeiros e, também para eles, a única urgência fosse afastar o PCP e o BE da “esfera do poder”. Mas o problema de Portugal não é simplesmente ter comunistas a sustentar um governo minoritário do PS. O problema de Portugal é ser governado por uma pequena “família socialista” – sempre os mesmos desde 1995 –, a quem devemos dois “estouros” (2002 e 2011), o maior escândalo de corrupção da democracia, e o mais longo período de divergência da Europa. O que o PSD devia estar a fazer era a explicar que é este PS quem precisa de ser afastado da “esfera do poder”, e que o PSD tem, sobre o crescimento ou a desigualdade, perspectivas e propostas muito diferentes. Em vez disso, a estratégia da direcção do PSD tem sido confundir-se com o PS e argumentar que o problema está todo no facto de os socialistas dependerem, para mandar no país, do PCP e do BE. Mas se a questão é apenas limitar a influência comunista, tanto faz votar PSD como PS. Porque, como explicaram os quadros do BCP, com uma maioria absoluta socialista também se obtém esse resultado. Se o Papa não é católico, então, para os católicos, qualquer igreja serve.