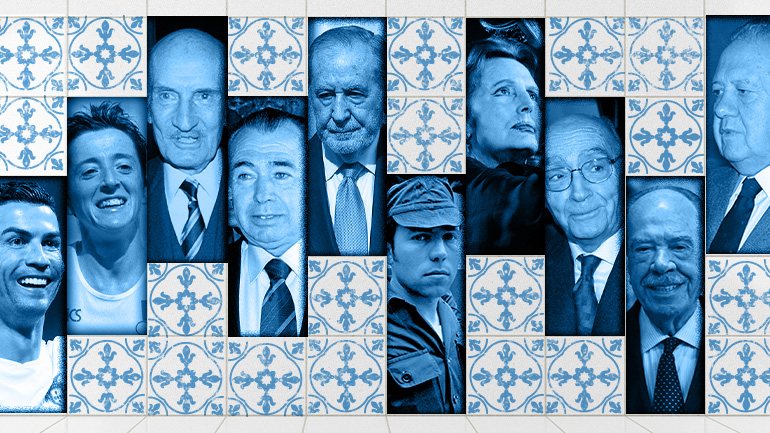É curioso como gente que há meses se atormenta acerca de “linhas vermelhas” parece ter dificuldade em reconhecê-las quando as pisa. Foi o que vimos na prisão do agitador catalão Pablo Hasél. Não faltou quem tratasse o caso como um atentado do Estado espanhol à “liberdade de expressão”. O equívoco não podia ser maior. A liberdade de expressão supõe a faculdade de dizer tudo, incluindo aquilo que pode indignar toda a gente. Mas implica também a obrigação de enfrentar as consequências legais do que se diz. A liberdade, num Estado de direito democrático, existe sob o império da lei. A difamação e a injúria são punidas pela lei, tal como o apelo à prática de actos violentos. Pablo Hasél não foi condenado por criticar pessoas ou coisas que tem todo o direito de criticar, como, para citar algumas das suas maiores fobias, a monarquia constitucional, a economia de mercado ou a democracia representativa. Foi condenado por pedir a grupos clandestinos armados como a ETA e os Grapo para matarem aqueles que, em Espanha, não pensam como ele e preferem a monarquia constitucional, a economia de mercado e a democracia representativa, como José Maria Aznar e outros. Por favor, leiam-no.
A violência é a grande – eu diria, a única – “linha vermelha” que deve existir num regime democrático. A democracia assenta na pluralidade e na liberdade, mas nenhuma democracia é possível se partidos e cidadãos não respeitarem as leis. Há umas semanas, nos EUA, os Democratas e até alguns Republicanos acharam por bem destituir mais uma vez o presidente Trump por o considerarem responsável pelo ambiente em que um bando de activistas se sentiu habilitado a invadir o Capitólio. Que dizer então de um “artista” que glorifica explicitamente autores de crimes violentos, incluindo raptos e assassinatos, e ainda mais explicitamente incita os seus contemporâneos a imitá-los, indicando-lhes até os nomes de possíveis vítimas? Sim, Pablo Hasél é livre para dizer o que lhe apetece. Mas também é responsável perante a lei. Há quem, porém, não pense assim. Há quem aprove a condenação de Trump, mas não a de Hasél. Há quem se indigne com a invasão do Capitólio em Washington, mas não com os ataques à polícia em Barcelona.
Não, não se trata de simples dualidade de critério ou de hipocrisia. Entre os defensores de Hasél, há, como não podia deixar de haver, distraídos. Mas há, em muito maior número, quem saiba o que faz: a “extrema-esquerda”, isto é, aqueles que, trinta anos depois do colapso das ditaduras comunistas na Europa, se mantêm fiéis à ideia que as inspirou, de resolver todos os problemas sociais através de uma ruptura violenta com a democracia e a economia de mercado. Para a extrema-esquerda, liberdades, como a de expressão, são coisas que apenas lhes interessam enquanto as podem utilizar para exercer a sua actividade de contestação, mas que de resto desprezam. A democracia, com as suas liberdades e eleições, não lhes parece mais do que um disfarce da “ditadura” da “burguesia” – ou da “supremacia branca”, como se diz agora –, e a função de revolucionários como eles é atacá-la e obrigá-la a desmascarar-se, como teria feito Hasél.
Os regimes ocidentais, após a vaga de jihadismo de há uns anos, andam agora assustados com o “populismo”, a “extrema direita” e a “supremacia branca”, que até ao secretário geral da ONU inspira os devidos chiliques. Só que antes do jihadismo, a mais sistemática campanha de violência contra as democracias no Ocidente não foi protagonizada pela extrema-direita, mas por grupos armados clandestinos da extrema-esquerda, como os Grapo em Espanha, os Baader-Meihnof na Alemanha, as Brigadas Vermelhas em Itália, ou as FP-25 em Portugal: roubaram, raptaram, e assassinaram com o objectivo de derrubar regimes democráticos, onde havia eleições livres e liberdade de expressão. Não o fizeram por um desvio ideológico qualquer, mas, muito coerentemente, em função de um culto da violência que é inerente à tradição da esquerda revolucionária. Através da sua violência, esperavam provocar a violência do regime, e assim expor as democracias como regimes simplesmente fundados na força, e portanto ilegítimos segundo os seus próprios princípios.
Dirão alguns: isso foi há muito tempo. A extrema-esquerda consiste hoje numa galeria de professores universitários, comentadores de televisão, e, em Portugal, até conselheiros de Estado. Tudo muito formalmente encasacado, mesmo quando sem gravata. Mas mesmo sem os grupos armados clandestinos dos anos 1970 e 1980, a extrema-esquerda não perdeu a pulsão da violência, porque não cedeu na ideia da revolução. Basta reparar em como não fala de um único “problema social” que não seja para justificar atitudes de revolta ou actos de confronto. Vimo-lo o Verão passado nos EUA, quando usou o movimento do Black Lives Matter para desencadear uma vaga de insurreições urbanas, que desaguaram numa inevitável “comuna de Paris”, desta vez situada na baixa de Seattle. Vemo-lo agora na Catalunha, onde a prisão de um arauto da violência serviu para mais uma campanha de desordem urbana. Pode não haver ainda “luta armada”, para grande pena de Hasél, mas a extrema-esquerda não se “moderou”. O que se passa então?
Os anos 1970 e 1980 parecem longe. Mas já pareceram mais longe. A guerra do Iraque, em 2003, serviu para relançar as marchas contra o “imperialismo” típicos da guerra do Vietname. Depois, não chegámos a ter inflação nem choques do petróleo, mas a crise financeira de 2008 e o alarme à volta das mudanças climáticas foram usadas para criar um ambiente apocalíptico, em que foi possível contrabandear outra vez toda a espécie de velhas ideias de ruptura radical com o “capitalismo” e a “sociedade de consumo”. Nada disso, porém, aconteceu por acaso. Aconteceu porque, nestes primeiros anos do século XXI, muito do que se disse nas televisões e se ensinou nas escolas foi dito e ensinado pela extrema-esquerda ou segundo os termos em que a extrema-esquerda coloca as questões. E este é talvez o facto político mais significativo dos últimos tempos, mais do que quaisquer “populismos”.
A extrema-esquerda chegou a ter grandes aspirações. A certa altura, acreditou até que podia tornar-se determinante à esquerda, e fazer a revolução a partir do governo. Foi quando o Syriza venceu as eleições na Grécia, Jeremy Corbyn se tornou líder do Partido Trabalhista no Reino Unido, Bernie Sanders prometeu ser o candidato presidencial dos Democratas, e o Podemos ameaçava ultrapassar o PSOE. Tudo isso, entretanto, se desvaneceu. O Syriza submeteu-se ao Euro, por perceber que os gregos não o acompanhariam numa aventura monetária, e acabou por perder. Corbyn não conseguiu ganhar eleições, apesar do Brexit. Bernie Sanders também não, apesar de Trump. E o Podemos, em vez de ultrapassar o PSOE, teve de se lhe submeter, como o PCP e o BE ao PS na “geringonça”. Mas erra quem julgar que as geringonças resultaram de “moderação”. As geringonças resultaram de derrotas. Mas não desviaram a extrema-esquerda dos seus objectivos. Simplesmente, aproveitou a via que de repente lhe abriu a esquerda supostamente moderada, agora interessada na sua companhia.
A extrema-esquerda tem neste momento a caução dos Democratas de Joe Biden nos EUA, do PSOE em Espanha ou do PS em Portugal. Uma caução que não só lhe valeu ministros, burocratas e ainda mais influência nas universidades ou na comunicação social, mas que também levou a que a sua visão do mundo ou pelo menos as suas referências fossem adoptadas pelos que, até agora, constituíam a esquerda democrática. Nos EUA, com Joe Biden, o busto de Churchill saiu da Casa Branca, e apareceu um busto de César Chávez, um ídolo do activismo esquerdista dos anos 60. Em Portugal, um deputado do PS veio lamentar que o 25 de Abril não tivesse começado com um banho de sangue, sem suscitar qualquer reacção no partido, a não ser a de João Soares.
Estes “faits divers” têm um contexto: o modo como as esquerdas moderadas começaram a invocar os chamados “populismos” para sugerir uma ameaça “fascista”. Esse foi sempre um dos mais característicos temas da extrema-esquerda, bem como da propaganda soviética: a ideia de que as democracias ocidentais são, no fundo, disfarces de ditaduras fascistas, à espera apenas da chegada dos líderes ou dos partidos fascistas para revelarem a sua verdadeira natureza. A única maneira de lhes barrar o caminho, claro, estaria na tomada do poder pela extrema-esquerda. Mas enquanto não é possível experimentar a “beleza de matar fascistas”, como o Teatro Nacional D. Maria II anunciava há uns meses (ah, mas era só provocação, claro, nada de interpretações literais, que só a “extrema-direita” merece), é possível outra coisa: destruir os símbolos e as identidades que, segundo a extrema-esquerda, sustentam o patriarcalismo e o racismo que definem as sociedades ocidentais. Rejeitar e destruir as memórias, os monumentos e as convenções que pretensamente traduzem esse “fascismo societal” seria outra maneira de “matar fascistas”.
O “politicamente correcto” e a “cancel culture” são hoje a maior sombra sobre a liberdade de expressão no Ocidente. Mas não são uma “tendência da história” nem uma “loucura dos tempos”. Manifestam a força da extrema-esquerda, e a força da extrema-esquerda consiste na força que lhe dá a esquerda dita moderada. Sem os Biden, os PSOE e os PS, a extrema-esquerda seria um fenómeno marginal. De que modo serve este radicalismo à esquerda moderada, que aliás foi, durante muito tempo, o inimigo principal da extrema-esquerda? Nos EUA, os Democratas precisavam de desalojar Trump, e convinha-lhes o ambiente de polarização e de violência que, a coberto do BLM, a extrema-esquerda criou nas ruas das cidades americanas em 2020: por isso, Nancy Pelosi ajoelhou, em sintonia com o radicalismo. Em Espanha, o PSOE não precisa apenas dos votos do Podemos no parlamento, mas da estigmatização violenta da direita que a extrema-esquerda se permite: interessa-lhe aparecer como uma barreira à transformação autoritária do regime, e não apenas como uma simples alternativa de governo à direita. Em Portugal, o PS ocupou o Estado, e tenta controlar a magistratura, a banca, as empresas, a comunicação social. Para defender tanto poder, está disposto a tudo. O tipo de estigmatização esquerdista da direita justifica-o na exclusão de quem se lhe opõe, e permitir-lhe-á apelar ao anti-fascismo quando o seu senhorio do país estiver em risco. Que ninguém, com o actual PS, espere uma alternância tranquila no governo em Portugal.
Não, a extrema-esquerda não voltou do frio para conversar, para se moderar, para chegar a compromissos, ou para promover reformas sociais. Voltou para fazer o que sempre fez, a revolução. E se pode fazer uma espécie de revolução, deve-o àqueles que, na esquerda dita moderada, julgam que o esquerdismo à solta os ajudará a conquistar ou a manter o poder. Um dia, talvez muita gente se espante de que, no meio da revolução em curso, tantas boas almas tenham andado a perder o sono por causa da “extrema-direita”. Mas não há maior sinal de que há uma revolução esquerdista em marcha do que o alarme com a “extrema-direita”.